Metodologia:
Foi realizada uma busca em plataformas digitais, começando pela plataforma Scientific Eletronic Library Online (Scielo), em seguida no Sistema de Bibliotecas do Museu Nacional e posteriormente
na plataforma do Google e Google Acadêmico .
Para localização de alguns trabalhos foram utilizados palavras-chave como: Escravidão;
travessia século XIX; saúde escravidão-doença; obituário escravos porto-moçambique;
Mocambique-Brasil; porto Rio de Janeiro.
Fora necessário alternar diversas combinações de palavras, visto que não foi possível encontrar um número considerável de trabalhos que contemplassem o tema queestava sendo buscado, e às vezes,
travessia século XIX; saúde escravidão-doença; obituário escravos porto-moçambique;
Mocambique-Brasil; porto Rio de Janeiro.
Fora necessário alternar diversas combinações de palavras, visto que não foi possível encontrar um número considerável de trabalhos que contemplassem o tema queestava sendo buscado, e às vezes,
não foi possível encontrar sequer um trabalho que explorasse o âmbito educacional que era o foco,
que em si já pode ser considerado uma evidência da ciência. Ao final da busca, foram selecionados nove trabalhos localizados na plataforma Scielo, estudos de ALBERTO, Manuel Simões. Os angonis
,Rodrigues, Jaime.
,Rodrigues, Jaime.
O tráfico de escravos e a experiência diplomática afro-lusobrasileira, no Arquivo Nacional textos de RAPOSO, Luciano Santos, Guilherme de Paula Costa. Convenção de 1817, REGISTROS DA SANTA CASA DE MISERICORDIA do Rio de Janeiro. Mariza Soares chama atenção para o fato de que os sepultamentos realizados, principalmente, pelas irmandades, consistiam em procedimentos como o pagamento do padre, a mortalha, o esquife, a sepultura, missa e velas (SOARES, 2000, p. 152).
“No Rio de Janeiro dos séculos XVII e XVIII é impossível pensar a hierarquia social sem levar em conta a hierarquia dos homens e dos santos... no outro extremo desta hierarquia estão os africanos recém-chegados, chamados ‘pretos novos’,‘boçais’ e ‘infiéis’” (SOARES, 2000, p. 136-7).
Os estudos de J. J. Reis e de Claudia Rodrigues são abrangentes a esse respeito,Rodrigues, Jaime. O tráfico de escravos e a experiência diplomática afro-lusobrasileira: transformações ante a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro. In Anos 90: Revista do programa de pós-graduação em história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,Guuilherme de Paula Costa. Convenção de 1817: debate político e diplomático sobre o tráfico de escravos durante o governo de d. João no Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.Rodrigues, Jaime. O tráfico de escravos e a experiênciadiplomática afro-lusobrasileira: transformações ante a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro. In Anos 90 na Revista do programa de pós-graduação em história daUniversidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2008
Versiani, Flávio Rabelo. D. João VI e a (não) abolição do tráfico de escravos para o Brasil. Trabalho apresentado na seção “Políticas Joaninas” do IX Congresso da BRASA – Brazilian Studies Association. New Orleans, 27-29 de março, 2008.
Para maiores detalhes do envolvimento de investidores britânicos e da própria economia britânica de uma forma geral não apenas no tráfico negreiro mas nas economias escravistas, ver Gwyn, Julian. The Economies ofthe Transatlantic Slave Trade: Review. In Histoire sociale – Social History, n. 49. Ottawa, 1908
RAPOSO, Luciano. Marcas de escravos: listas de escravos emancipados vindos a bordo de navios negreiros (1839-1841). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1989. (Publicações históricas, 90).
Entre si seria o fim último do escravismo. Ora, se a escravidão reproduzia continuamente a elite colonial, e se esta se recompunha e fazia crescer seus estoques de cativos, sobretudo por meio do tráfico atlântico, é forçoso concluir ter sido o fim último da migração compulsória de africanos a reprodução do topos social da elite da América portuguesa. Em outras palavras, ao incremento dos desembarques de africanos correspondia o aumento da diferenciação socioeconômica entre os homens livres. No Rio de Janeiro, nunca menos de 84% de todos aqueles que, ao morrer entre 1789 e 1832, abriam inventários post-mortem eram donos de pelo menos um cativo. Semelhante dado indica um alto nível de dissemina.
A bordo do navio negreiro de Moçambique para o Rio de Janeiro.
No dia posterior a captura, começou a jornada de cinquenta dias abordo do navio negreiro, onde Hill observou o sofrimento, agonia e morte dos africanos embarcados.
A tripulação do navio capturado era formada por dezessete homens, três espanhóis e o restante brasileiros e portugueses.
Apresentação:
As doenças dos escravos e as doenças dadas como de origem africana são temas que devem ser retomados. Não podemos afirmar, como o fizeram os historiadores da medicina do passado, que determinadas doenças foram introduzidas pelos negros africanos, ou mesmo que eram exclusivas deles. "Quanto às doenças adquiridas pelos negros" , situação apontada por Freyre em Casa grande e senzala (1933), a preocupação de médicos e historiadores parece ter sido menor. Algumas análises como as de Rodrigues (2004 e 1935) e Freitas (1935) têm uma visão determinista biológica, e refletem, portanto, a concepção da influência racial das doenças, e outros como Santos Filho (1991) e Parahym (1978) contribuíram para reforçar estereótipos sobre a população negra, na medida em que não retomam à luz de novos conhecimentos essa questão e reafirmam a existência de doenças de origem africana, sem ressalvas. Xavier Sigaud (1844) creditou aos negros a prevalência de patologias específicas, mas não como resultado de sua composição racial, e sim da influência exercida pelo clima (Ferreira, 1996).
A questão da saúde e da doença do escravo tem sido analisada apenas indiretamente nos trabalhos acadêmicos sobre a escravidão em geral. Neste aspecto, a historiografia nacional carece de estudos específicos, se comparada à produção internacional (Ver Curtin, 1968; Fett, 2002; Kiple, 1984 e 1988 e Kiple & King, 1981; Mcbride, 2005; Morais, 1967; Numbers & Savitt, 1989; Savitt, 1978 e 2005; Sheridan, 1985). As obras analisam a história da saúde e das doenças dos escravos em perspectiva abrangente. Abordam temas tais como a relação entre medicina e escravidão e a história biológica da raça negra.
A ausência de estudos mais alentados sobre a saúde do escravizado na historiografia brasileira talvez seja decorrência da desatenção que a questão de grande parte da assistência médica à força de trabalho escrava teve ao longo do período da escravidão, como apontamos no início deste ensaio. Com exceção do estudo de Mary Karasch (2000, 1. ed. 1987) que dedicou um largo espaço à questão, e mais recentemente o de Jaime Rodrigues (2005), os tratados sobre a escravidão no Brasil passam ao largo dessa questão. Mas da sólida documentação sobre a escravidão que podemos encontrar nos arquivos brasileiros, associada à atual multiplicidade de trabalhos acadêmicos sobre o tema da saúde e da doença – consubstanciados em uma série de publicações sobre a história da medicina e as artes de curar no Brasil –, do cruzamento das fontes e dos temas, podemos traçar a história da vida higiênica dos escravos no Brasil do século XIX. Este é o objetivo do projeto ora iniciado na Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz: "O sistema de saúde do escravo no Brasil do século XIX: instituições e práticas terapêuticas".
Um fato verdadeiramente singular os portos negreiros era a saúde destes escravizados um olhar em um dos portos que mais forneceram escravos pra o tráfico atlântico através de registros que poderiam tornar os dados mais precisos foi perdidos ou destruído. As estimativas indicam que entre 3.300.000 e oito milhões de pessoas desembarcaram nos portos brasileiros para serem vendidas como escravas, com os navios saíam principalmente dos portos de Lourenço Marques (atual Maputo) ao Cas do Valongo no Rio de janeiro de meados do 1768 até 1850, quando o tráfico foi efetivamente abolido pela Lei Eusébio de Queiroz.
As quatro principais rotas dos navios negreiros que ligaram o continente africano ao Brasil foram as da Guiné, Mina, Angola e Moçambique. Elas concentravam o comércio de seres humanos que, na maioria dos casos, eram aprisionados em guerras feitas por chefes tribais, reis ou sobas africanos para esse fim. Os traficantes, principalmente portugueses, mas também de outras nações europeias e posteriormente brasileiros, obtinham os prisioneiros em troca de armas de fogo, tecidos, espelhos, utensílios de vidro, de ferro, tabaco e aguardente, entre outros. Os navios, dependendo do tipo, traziam de 300 a 600 cativos por vez. Entre 10% e 20% deles morriam na viagem.
Rota de Moçambique
No início do século XIX, a Inglaterra passou a pressionar Portugal no sentido de acabar com o tráfico negreiro, o que resultou nos tratados de 1810 entre os dois países. Para escapar ao controle britânico na maior parte do Atlântico, muitos traficantes se voltaram para uma rota até então pouco explorada, que partia da África Oriental. Os navios saíam principalmente dos portos de Lourenço Marques (atual Maputo), Inhambane e Quelimane, em Moçambique, e se dirigiam ao Rio de Janeiro. Vamos fazer uma releitura da entrada e saída deste escravizados tendo como principais portos de Lourenço Marques (atual Maputo), Inhambane e Quelimane, em Moçambique, e se dirigiam ao Rio de Janeiro e suas condições de saúde.
Saúde dos Escravizados
Além do Brasil, outras colônias americanas foram se tornando economias escravistas e demandando um número cada vez maior de escravos africanos. Do ponto de vista econômico, quando a demanda cresce, a produção também aumenta. É a lei da oferta e da procura. Foi o que ocorreu na África.
"As elites africanas tentaram ter sempre o maior número possível de escravizados para trocar por mercadorias europeias. São desenvolvidas diversas formas de obtenção de escravizados, como medidas fiscais (cobrança de impostos) e de caráter judicial (julgamentos que condenavam o acusado à escravidão).
A guerra.
Os africanos eram escravizados por diversos motivos antes de serem adquiridos:[carece de fontes]por serem prisioneiros de guerra; penhora: as pessoas eram penhoradas como garantia para o pagamento de dívidas; rapto individual ou de um pequeno grupo de pessoas no ataque a pequenas vilas; troca de um membro da comunidade por comida; como pagamento de tributo a outro chefe tribal.
Ainda quando estavam em África, estima-se que a taxa de mortalidade dos africanos no percurso que faziam desde o local em que eram capturados pelos mercadores de escravos locais até ao litoral onde eram vendidos aos europeus era superior à que ocorria durante a travessia do Atlântico. Durante a travessia, a taxa de mortalidade, embora menor do que em terra, até o final do século XVIII se manteve assustadora, com maior ou menor incidência dependendo das epidemias, das rebeliões e suicídios levados a cabo pelos escravizados, das condições existentes a bordo, bem como do humor do capitão e tripulação de cada navio negreiro.
Homens, mulheres e crianças eram transportados amontoados em compartimentos minúsculos dos navios, escuros e sem nenhum cuidado com a higiene. Conviviam no mesmo local, a fome, a sede, as doenças, a sujeira, os agonizantes e os mortos.
Não existia a menor preocupação com a condição dos negros, os responsáveis pelos navios negreiros amontoavam negros acorrentados como animais em seus porões que muitas vezes advinham de diferentes lugares do continente africano, causando o encontro de várias etnias e que por vezes eram também inimigas. Seus corpos eram marcados pelas correntes que os limitavam nos movimentos, as fezes e a urina eram feitas no mesmo local onde permaneciam. Os movimentos das caravelas faziam com que muitos passassem mal e vomitassem no mesmo local. Os alimentos simplesmente eram jogados nos compartimentos uma ou duas vezes por dia, cabendo aos próprios negros promover a divisa da alimentação. Como os integrantes do navio não tinham o hábito de entrar no porão, os mortos permaneciam ao lado dos vivos por muito tempo.
Quando o navio encontrava alguma dificuldade durante seu trajeto, o comandante da embarcação ordenava que os negros moribundos ou mortos fossem lançados ao mar, como alternativa para reduzir o peso do navio. Nestes casos, o mar acabava se tornando a única saída dos negros para a luz, antes de chegarem aos destinatários do comércio.
O comércio transatlântico provocou um dos maiores deslocamentos populacionais da humanidade e seus números comprovam essa magnitude. Aproximadamente 12,5 milhões de africanos escravizados entre os séculos XVI e XIX, sobrevivendo cerca de 10,7 milhões ao fim da travessia.8 Apenas na primeira metade século XIX estima-se a chegada de 42% dessa população, sendo uma parte deles destinada à região sudeste, principalmente entre os anos de 1826 e 1850.
O Rio de Janeiro era o principal local redistribuidor de escravos para o centro-sul, o desembarque de africanos era feito em cais na Baía de Guanabara ou em locais improvisados, tendo essa cidade uma demanda maior por escravos em comparação a outras áreas portuárias por conta do crescimento da exploração das minas e o aumento da construção de engenhos para o fabrico de açúcar. O desenvolvimento da agricultura e, principalmente, a produção do café no último quartel do século XVIII também foram necessidades que provocaram um aumento no fluxo de africanos para o Rio de Janeiro, somado a instalação do Tribunal da Relação em 1752 e a transferência da sede do Vice-reinado, em 1763.
Durante grande parte do comércio de escravos para o Brasil, o desembarque no Rio de Janeiro foi feito na região central, atual Praça XV, ficando os africanos nos arredores e andando aos bandos, às vezes nus e, segundo os relatos da época, com infinitas “moléstias”. Os comerciantes varejistas mantinham suas lojas de “negros novos” em grande parte na Rua Direita, permanecendo nessa área até por volta de 1825, mesmo após a criação do mercado do Valongo. No entanto, essa grande circulação de escravos e do seu comércio dentro da cidade já vinha sendo reclamado por algumas autoridades. Em 1758, iniciou-se uma discussão por parte dos vereadores a respeito dos malefícios que essa atividade provocava para uma área urbana e densamente construída e habitada. A ideia era tirar da cidade esse comércio, levando-o para uma região mais afastada.13 Assim, transferiu-se o mercado escravista do Largo Paço para o desabitado Valongo, construído por ordem do vice-rei, o Marquês de Lavradio após alguns aterros. O Valongo, a noroeste da cidade, localizado entre o outeiro da Saúde e o Morro do Livramento e ainda pertencente a freguesia de Santa Rita, representou a reunião de toda a complexidade que envolvia o comércio de escravos. Além do cais, o complexo abrigava as “casas de carne”, onde os africanos recém-chegados eram negociados, e um cemitério, uma vez que o local de enterramentos dos pretos novos, o Largo da Igreja de Santa Rita, ficava distante do Valongo.15 A ideia era concentrar todo o processo de chegada, recuperação e venda desses escravizados em apenas uma área a fim de ordenar o seu comércio. Toda essa movimentação atraiu para essa região diferentes tipos sociais tornando a região uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro.
Os navios que negociavam e transportavam escravos eram chamados de navios negreiros ou navios tumbeiros, nome que é derivado de "tumba", devido à quantidade de escravos que morriam em seus porões. Calcula-se que 20% dos escravos africanos embarcados nos tumbeiros morriam durante a travessia pelo oceano Atlântico. O tumbeiro poderia ser uma nau, um bergantim, uma corveta, dependendo do desenvolvimento tecnológico da época (o tráfico atlântico de escravos durou quatro séculos e durante esse tempo as técnicas de navegação mudaram muito). Em geral essas embarcações transportavam entre 400 e 500 escravos, todos confinados num porão. Os negreiros (comerciantes de escravos) compravam escravos a mais do que sua embarcação comportava, pois sabiam que perderiam muitas das suas "mercadorias" durante a viagem, e assim superlotavam suas embarcações. Uma viagem entre Angola e Brasil durava 35 dias. E entre Moçambique e Brasil demorava em torno de três meses. Os alimentos e a água potável transportada por esses navios eram insuficientes até mesmo para a tripulação (trabalhadores do navio), pois não existia nenhuma forma de refrigeração.
Os escravos, confinados na parte mais insalubre do navio, passavam por situações das mais terríveis. Não sabiam onde estavam, ficavam apertados num espaço no qual não podiam ficar em pé ou se deitar, recebiam pouca alimentação com baixo grau de nutrientes (basicamente: feijão, farinha de mandioca e carne seca). Mal recebiam água para beber. E, enquanto isso, pelas frestas da embarcação feita de madeira, a água do mar ia aos poucos invadindo o chão do porão. Famintos, fracos e doentes, os escravos não tinham mais nada em que acreditar. O desespero era tanto, que alguns dos cativos aceitavam vigiar e punir seus companheiros de sofrimento em troca de um pouco mais de água. Os rebeldes. eram, normalmente, envenenados. Os mortos eram atirados ao mar. Nessa situação de tamanha infelicidade, pessoas que nunca tinham se visto antes, que nem sequer falavam a mesma língua, se ajudavam. Repartiam a pouca comida. Consolavam-se. Essa amizade, essa solidariedade que surgia nos tumbeiros era chamada de malungo, ou seja, amizade de travessia, que algumas vezes se perpetuava para a vida toda. São comuns os relatos sobre a enorme felicidade dos escravos ao aportarem no Brasil, o que era interpretado na época como se os africanos estivessem alegres por se libertarem da vida pagã africana ao chegar ao mundo cristão americano.
Os Africanos embarcados nesses portos pertenciam a uma diversidade de povos, entre os quais os macuas, swazis, macondes e ngunis, e ganhavam no Brasil a designação geral de "moçambiques". Entre 18% a 27% da população africana no Rio do século XIX era de moçambiques. No entanto, nem todos vinham da colônia portuguesa e, sim, de regiões vizinhas – onde hoje estão Quênia, Tanzânia, Malauí, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul e Madagascar. O grupo linguístico majoritário era o banto.
Era tão estendido o negócio do tráfico de escravos que um visitante que esteve em Quelimane, no início da década de 1840, constatou como os afro-portugueses arriscavam todo o seu capital nesse “jogo”. Ganhando, conseguiriam duplicar o investimento; perdendo, poderiam sempre tentar outra vez (NEWITT, 1995, p. 251). Vinte anos mais tarde, outro observador presente na Ilha de Moçambique assim descreveu o vigor desse comércio: Navios portugueses e brasileiros fizeram aproximadamente 9 mil viagens com africanos escravizados.
Duas ou três embarcações árabes, autênticos juncos em miniatura, ou melhor, caixões de escravos, e uma barca francesa prestes a receber a sua carga viva. Havia ainda uma escuma da armada portuguesa (que, por seu turno, não teria quaisquer problemas em levar a cabo um pouco de comércio ilegal), e uma outra escuma de péssimo aspecto, está pertencente a um mercador de Moçambique (Cf. NEWITT, 1995, p. 251).
O número de viagens negreiras para o Brasil foi crescendo à medida que a exploração econômica baseada no trabalho escravo avançava
Segundo Manuel Bandeira este poema, junto a "Vozes d'África", deveria pertencer ao livro Os Escravos e que ambos são os "poemas em que o Poeta atingiu a maior altura de seu estro". Completa sua análise informando que nele "evoca o Poeta os sofrimentos dos negros na travessia da África para o Brasil.
Sabe-se que os infelizes vinham amontoados no porão e só subiam ao convés uma vez ao dia para o exercício higiênico, a dança forçada sob o chicote dos capatazes", situação que Castro Alves sublimou nos versos:
"Era um sonho dantesco!... o tombadilho,
que das luzernas avermelha o brilho,
Em sangue a se banhar!...
Tinir de ferros, estalar de açoite...
Legiões de homens negros como a noite,
Horrendos a dançar...
(...) E ri-se a orquestra irônica e estridente...
E da ronda fantástica a serpente
Faz doidas espirais..."
Bandeira termina sua análise desta poesia falando de seu desfecho: "O poema conclui com três oitavas reais, num misto de revolta e tristeza ao assinalar que a bandeira emprestada «para cobrir tanta infâmia e covardia» era o pendão brasileiro".
O auge ocorreu de 1750 a 1850 (ano em que o tráfico foi finalmente proibido): nesse período, aportaram no Brasil 7 mil navios portugueses ou brasileiros trazendo escravos da África - a partir da independência, em 1822, os brasileiros assumiram protagonismo no tráfico de escravos. Quatro entre cada dez escravos africanos desembarcados nas Américas foram importados pelo Brasil e apenas no século XVIII aportaram na América portuguesa menos negros ao menos para o caso do Brasil, é possível rever a ideia segundo a qual a reprodução externa da escravidão funcionava como um potente mecanismo de desacumulação. Sabe-se que por quase meio século – de 1810 a 1850 – as elites brasileiras puderam resistir às pressões britânicas pelo fim do tráfico, o que só pode ser compreendido se tomarmos o comércio negreiro como um importante circuito interno de acumulação de riqueza, detentor de grande autonomia frente ao capital mercantil internacional. Os lucros gerados pelo tráfico transformaram os mercadores de escravos na mais importante fração da elite brasileira, posição que lhe facultava influenciar decisivamente os destinos do Estado
É instigante a antiga observação de Moses Finley, segundo a qual é escravista – e não meramente possuidora de escravos – toda sociedade cuja elite se reproduz mediante a exploração do trabalho dos cativos. Longe de se apresentar tautológico, semelhante procedimento remete ao fato de que diferenciar os homens livres e
O navio vinha quase sempre do Brasil, do porto de Paranaguá.
Hill questionou um desses tripulantes sobre o tráfico e ele responde que este “era um trabalho para homens desesperados, ou seja, homens perdidos” (2006, p.75).
Na sua primeira noite de viagem a bordo do navio negreiro, uma tempestade os abateu.
O autor testemunhou o desespero dos africanos que estavam no porão, lutando e se pisoteando por espaço próximo a única abertura ali existente.Pela manhã do dia seguinte, os resultados desta noite de tormenta foram contados, em total de cinquenta e quatro corpos foram encontrados esmagados e dilacerados . A morte que foi presenciada nesta primeira manhã de viagem foi uma constante durante toda a viagem, pelo grande número de escravos que estavam doentes e machucados.
Muitos destes que se encontravam feridos foram atacados pelos seus próprios companheiros de cárcere.
Além dos horrores encontrados dentro do navio, entre aqueles que estavam aprisionados, havia muitos presos há meses, estando à espera de uma oportunidade para a realização do comércio.
O Grande número de escravizados doentes devia-se a vários fatores, mas não podemos destacar o Banzo:
O móbil do tráfico o Banzo que é uma palavra africana de origem Bantu usada para referir-se à intensa saudade e ao sentimento melancólico de perda da terra natal e liberta de manifestado pela população africana escravizada. Ainda hoje se discute o significado dessa palavra, esta significa à vez estar triste, pensativo, atônito, nostalgia, melancolia, desânimo, abatimento; prostração, saudade.
O banzo é definido como o processo psicológico causado pela remoção da cultura que colocou os negros na condição de escravos transportados para terras distantes, em um estado inicial de excitação seguido por impulsos de raiva e destruição e em seguida, uma profunda nostalgia que induzia a apatia, falta de fome, muitas vezes a loucura até a morte. Banzo acontece quando se é arrancado de sua cultura, consequência da desconexão da religião, crenças, sistema de castas, os costumes, a família e os amigos, sem esperança de jamais voltar a eles. Como resultado, a pessoa acometida pelo banzo quer morrer, torna-se louco ou se transforma em uma pessoa “endurecida”, cujo autocontrole emocional é completamente interrompido. No século 19, com o desenvolvimento das primeiras teorias psicológicas, o comportamento dos escravos banzeiros foi reconhecido como distúrbio mental.
O termo também, há tempos, designou uma doença. Assim muitos entravam em banzo (depressão), morrendo da mesma. A depressão é uma das doenças que mais mata no Mundo. Sendo assim Banzo é depressão, tristeza profunda. De acordo com a historiografia oficial, Banzo era o que matava s escravos trazidos para o Brasil em navios-negreiros. Dizia-se que eles morriam por “saudades da terra natal”, ocultando que eles, na verdade, morriam pelas más condições do transporte nos porões.
Segundo Hill um traficante “espanhol afirmou que os negros que constituíam a carga de modo geral estavam muito doentes -mala esclavitud- [tinham sido] embarcados (...) tendo esperado na costa durante dois ou três meses na expectativa de um navio (...)[,] alguns deles [vinham] de longe do interior e chegaram em condições deploráveis e cinquenta foram rejeitados [por] incapacidade para viajar (2006, p.74).
Neste trecho o traficante faz menção aos locais de origens dos cativos, dando a entender a grande rede comercial escravista que ligava o centro do continente a costa.
As doenças que atingiam a tripulação foram às mesmas que chegaram ao Brasil no início do processo escravista, doenças como varíola, bichos-do-pé, disenteria, febre-amarela, dentre outras que se disseminaram graças às dificuldades existente na administração de remédios dentro do navio.
O autor fala sobre um enterro cristão em alto mar, ainda relata a forma de punição aos negros que se comportaram de forma ilícita durante a viagem.
Neste momento ele revela um relato de um dos tripulantes: ‘“Nós não devemos ter sentimentos por este infeliz mais do que” ... Outro tripulante o retruca: “Ora nós não temos sentimentos uns pelos outros, muito menos por eles’”.
Neste momento o autor faz presente sua opinião afirmando que o criador fez todos iguais, pois todas as nações dos homens são oriundas do seu sangue. Esta questão de igualdade era defendida pelos quakers e metodistas na Inglaterra desde o início do século XVII (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p.172).
Mesmo que a tripulação acreditasse que os negros não tivessem fé, ele não acreditava nisso. Em outro momento, Hill destacou a sociabilidade existente entre os negros, tal como o fato de todos se cumprimentarem com uma batida nos pés, feita inclusive pelos doentes.
A alimentação no navio negreiro: Além de falar da igualdade da divisão dos alimentos entre eles.
Os alimentos que estavam dentro do navio para a viagem eram comprados em sua maioria no porto de embarque da carga, para garantir que estes fossem frescos, entre os principais itens estavam arroz, milho, feijão miúdo, carne seca e farinha de mandioca, esta última tinha sido introduzida no século XVI. Havia falta de alimentos (feijão, arroz, milho, peixe e carne seca), necessários para a subsistência e saúde dos negros, não só na quantidade, mas até na qualidade”.
Durante toda a viagem, a fome e a morte foram companheiras inseparáveis dos cativos do navio Progresso. O livro de Mary Del Priore e Renato Pinto Venâncio, “Uma Introdução à História dos Ancestrais da África Atlântica” (2004), traz uma lista das preferências alimentares dos povos usados no comércio escravo:
''Os cativos provenientes do Sahel preferiam, por exemplo, o sorgo ou o milhete ao arroz, comida de base para inúmeras regiões costeira.
Escravizados vindos do delta do Niger ou Maiombe que preferiam inhame”.
O valor de venda dos escravos, segundo Hill, ao chegar ao Rio de Janeiro tinham seu preço fixado em 500 mil-réis ou 52 libras para os homens, 400 mil-réis ou 41,10 libras para as mulheres, 31 libras para crianças.
O tráfico de escravos, com certeza, trazia um grande lucro, tendo em vista que cada africano custava 3.5 libras na origem. A tripulação recebia 25,5 mil-réis pela viagem, em acaso de sucesso era acrescentado 500 mil-réis a cada tripulante. Na chegada ao Brasil, após a compra, o escravo passava a receber ensinamentos, o batismo cristão era seguido por um novo nome.
Mais números: Até 1830, os milhares de africanos desembarcados no porto do Rio de Janeiro supriam por via terrestre à demanda da capitania de Minas Gerais que, com sua economia voltada para o mercado interno, absorvia até 40% dos escravos vendidos e revendidos por traficantes do Rio de Janeiro. Por via marítima, a capitania do Rio provia também boa parte da demanda por escravos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, e, em menor escala, do Espírito Santo, regiões nas quais os cativos eram empregados na agricultura voltada para os mercados interno e externo, além da pecuária e, mesmo, de setores artesanais e domésticos. Situavam-se no próprio Rio de Janeiro os outros núcleos de demanda por africanos: as fazendas produtoras de cana-de-açúcar (sobretudo da região de Campos dos Goitacás) e aquelas ligadas à produção de alimentos; o centro mercantil formado pela capital e por sua periferia imediata; e a produção cafeeira no Vale do Paraíba, cujas exportações passaram de 160 arrobas, em 1792, para 539 mil em 1820, chegando a 3.237.190 em 1835.
Agravos na saúde dos escravizados na chegada ao Maior Porto Negreiro das América
Desde início do século XIX, as Juntas Vacínicas aplicavam o método desenvolvido por Edward Jenner, que consistia em introduzir o pus vacínico em indivíduos sãos para conter o avanço das "bexigas". Com a abertura dos portos ao comércio exterior, em 1808, as autoridades sanitárias concentraram suas atenções nas medidas higiênicas que respondessem aos interesses dos comerciantes e da agroindústria escravista exportadora, fiscalizando as boticas de bordo, as cargas trazidas, a presença de doenças contagiosas na tripulação. O medo da importação de escravos doentes que pudessem gerar uma epidemia nas cidades portuárias era outra preocupação dos comerciantes. No entanto, a Inspetoria de Saúde dos Portos só seria criada em 1828.
Cientistas do Laboratório de Virologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) realizaram, pela primeira vez, o sequenciamento completo do DNA de vírus causadores da hepatite B no Brasil e fizeram uma descoberta surpreendente. O trabalho revelou que a origem da maioria deles não está na África central e ocidental, de onde foram importados cerca de cinco milhões de escravos entre 1551 e 1840; mas sim no leste do continente, onde o tráfico negreiro prosperou já na fase de ilegalidade. A pesquisa, realizada em colaboração com a Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, foi publicada na revista científica Plos One “Nós já havíamos identificado que a maioria dos vírus da hepatite B no Brasil tem origem africana. Logo, a principal hipótese era de que estes patógenos tivessem vindo com os escravos. E de onde vieram a maioria dos escravos? Da costa ocidental, principalmente de Angola. Pensando em números, era pouco provável que a doença tivesse sido introduzida a partir da costa oriental africana, mas foi o que nossa pesquisa evidenciou”, afirma Selma Gomes, pesquisadora do Laboratório de Virologia Molecular do IOC/Fiocruz e coordenadora do estudo.
Portos de Chegada, locais de quarentena e venda
A execução do tráfico atlântico de africanos escravizados envolveu a construção de portos, locais de quarentena e venda de africanos recém-chegados nas diversas cidades portuárias, ao longo do período colonial. A partir do final do século XVIII, o comércio negreiro começou a perder legitimidade no mundo Atlântico, até tornar-se ilegal na maioria dos países que o praticavam, no início do século XIX. Em 7 de novembro de 1831, o governo Imperial brasileiro promulgou a primeira lei proibindo a entrada de escravos africanos no país, prevendo pesadas penas para quem vendesse, transportasse ou comprasse africanos traficados em território brasileiro. Entretanto, até a lei de 1850, as autoridades toleraram os horrores do tráfico. Mesmo condenado internacionalmente, mais de 750 mil pessoas foram contrabandeadas para o Brasil. Apesar do não cumprimento da lei de 1831, os comerciantes de africanos tiveram que buscar maior discrição para seus negócios e buscaram locais de desembarque afastados dos centros urbanos. Em 4 de setembro de 1850, finalmente, uma nova lei, conhecida como Lei Euzébio de Queiroz, foi aprovada no Parlamento. Após sua promulgação, apesar da continuidade do contrabando, a repressão ao tráfico avançou significativamente até sua completa extinção.
Problematização - Investigação cheia de surpresas.
Assim como os detetives buscam pistas na cena do crime, os pesquisadores se basearam em variações observadas no DNA dos vírus para traçar sua origem. Da mesma forma que ocorre na investigação criminal, o avanço das técnicas de pesquisa permite chegar a resultados cada vez mais precisos e, muitas vezes, inesperados.
Os vírus da hepatite B são divididos em pelo menos oito perfis genéticos identificados por letras de A até H, sendo que cada um deles tem uma distribuição geográfica distinta. O genótipo F, por exemplo, é típico dos povos indígenas americanos e predominante na maior parte da América Latina. Por esse motivo, até a realização dos primeiros trabalhos para determinar o perfil genético dos vírus do Brasil, acreditava-se que este seria o genótipo mais comum no país. No entanto, estudos realizados na década de 1990 pela equipe do Laboratório de Virologia Molecular do IOC mostraram que os vírus brasileiros eram majoritariamente do genótipo A, que pode ter origem africana ou europeia. Em segundo lugar, vinham os patógenos D, característicos da Europa. Apenas na terceira posição aparecia o genótipo F. “É uma distribuição que se relaciona diretamente com a história do Brasil”
As técnicas disponíveis naquele período, porém, não permitiam contar em detalhes a trajetória dos vírus causadores da hepatite B no Brasil. Somente em meados dos anos 2000, os cientistas conseguiram observar que havia características genéticas diferentes entre os patógenos do tipo A da África, chamado de A1, e da Europa, chamado de A2. No Brasil, os dois perfis foram detectados. Novamente, refletiu-se a diversidade de origens da população: em todo o país, os patógenos do subgenótipo africano predominam, porém, quanto mais ao sul, maior a proporção de vírus do perfil europeu
.A próxima etapa da investigação levou os pesquisadores para Angola, onde eles imaginavam encontrar a origem dos vírus da hepatite B do Brasil, mas acabaram se deparando com outro mistério. As pesquisas revelaram um nível extremamente alto de infecção no país. No grupo estudado, cerca de 15% tinham a doença, quase o dobro do patamar de 8%, estabelecido como de prevalência elevada – para comparação, no Brasil, a hepatite B atinge 0,5% da população. No entanto, se a alta presença dos vírus indicava que Angola poderia ter sido a origem dos patógenos brasileiros, a análise do DNA deles destruiu esta hipótese. Os vírus possuíam o genótipo E, que nunca foi detectado no Brasil, a não ser em imigrantes recém chegados da África.
“De fato, o genótipo E que foi encontrado em Angola, justamente o principal porto provedor de escravos para o Brasil, não é detectado em nenhum dos países que receberam mão-de-obra africana. A partir dessa descoberta, surgiram algumas hipóteses. A principal teoria considera que o genótipo E teria surgido após o período da escravidão. A outra possibilidade é que, naquela época, ele estivesse confinado apenas em pequenas tribos, em baixa quantidade, de forma que não foi carreado para o continente americano”, relata a bióloga Bárbara Lago, que defendeu recentemente sua tese de doutorado pelo programa de Pós-graduação em Biologia Celular e Molecular do IOC/Fiocruz e é a primeira autora do estudo recém-publicado
Respostas no “DNA’
Foi somente o sequenciamento completo do DNA dos vírus da hepatite B que possibilitou aos pesquisadores descobrir a origem dos patógenos brasileiros. Os cientistas decifraram os códigos genéticos de 26 vírus do genótipo A, encontrados em oito estados, abrangendo as cinco regiões do Brasil. Vinte e três foram identificados como do tipo A1, originário da África, e três, do perfil A2, vindo da Europa. Todos os genomas foram comparados aos de 151 patógenos de vários países registrados em um banco de dados internacional. Com base nas semelhanças e diferenças, e auxiliados por programas de computador, os pesquisadores conseguiram desenhar a árvore filogenética dos vírus, algo semelhante a uma árvore genealógica.
O trabalho apontou que a maioria dos vírus da hepatite B que circulam no Brasil faz parte do grupo de patógenos ‘Asiáticos-Americanos’, um subtipo dos vírus de genótipo A1. Neste conjunto estão, por exemplo, vírus da Somália, país da costa oriental da África; do Haiti, Colômbia e Martinica, nas Américas; e de diversos países asiáticos. Pela grande semelhança, os pesquisadores consideram que estes patógenos devem ter um ancestral comum próximo (ou seja, teriam uma relação como a de irmãos). Por outro lado, a comparação dos vírus brasileiros com aqueles de países como a África do Sul e o Congo, onde circula o chamado subtipo ‘Africano’ do genótipo A1, mostrou uma maior diferença genética, indicando um ancestral comum mais distante (ou seja, algo como um parentesco entre primos)
A descoberta da origem oriental dos vírus da hepatite B brasileiros foi uma surpresa para os pesquisadores. Em seguida, os cientistas perceberam que diversos fatores históricos podem ter propiciado este fenômeno. “Após a publicação da ‘Bill Alberdeen’ pela Inglaterra, lei que permitia interceptação de navios negreiros no Oceano Atlântico, os comerciantes foram forçados a buscar escravos na costa oriental africana. Eram 60 dias de viagem, contra apenas 15 do trajeto até a costa oeste, mas não havia outra opção”, afirma Bárbara. “A verdade é que não se trata de uma questão de quantidade. Milhares de escravos saudáveis vindos da costa oeste não transmitiriam nenhuma doença. Por outro lado, apenas uns poucos infectados da costa leste poderiam propagar o vírus”,os escravos brasileiros traficados a partir da costa oriental africana vieram principalmente de Moçambique, que ainda era uma colônia portuguesa no período. Como o DNA dos vírus da hepatite B deste país ainda não foi mapeado, a maior evidência de que o subtipo ‘Asiático-Americano’ circula na região vem da Somália, onde um estudo foi realizado em 2005. “Além da proximidade geográfica, existe uma relação comercial entre o leste da África e o oriente. A Somália, por exemplo, sempre manteve o comércio com a Ásia, através do Oceano Índico”, diz Bárbara.
As condições enfrentadas pelos escravos no Brasil também podem ter influenciado a disseminação dos vírus da hepatite B do subtipo ‘Asiático-Americano’ no país. Enquanto a mão-de-obra escrava era usada no cultivo da cana-de-açúcar e na mineração, o número de homens trazido da África permaneceu significativamente maior que o de mulheres. Já no período da lavoura cafeeira, a mão-de-obra feminina foi incorporada mais intensamente ao trabalho, o que pode ter facilitado a disseminação de uma doença sexualmente transmissível, como a hepatite B. “Até mesmo a curta sobrevida dos escravos, devido às péssimas condições em que eles viviam nos primeiros tempos da escravidão, pode ter dificultado que a população de origem angolana propagasse o vírus”
‘Marcador de populações’
Atualmente, a hepatite B pode ser prevenida por uma vacina, mas, ao longo da história, a forma como o vírus causador da doença se espalhou pelo planeta transformou estes patógenos em ‘marcadores de populações’, de acordo com Selma. No passado, os vírus de cada genótipo provavelmente tiveram um ancestral comum. Porém, ao serem transportados para regiões diferentes e permanecerem isolados, os vírus se diferenciaram, ganhando características genéticas próprias em cada local. “Eles são muito antigos no planeta e caminharam com a humanidade, acompanhando o fluxo das grandes migrações humanas”, diz a virologista.
Declaração de ética
As amostras de sangue humano do presente estudo foram coletadas em vários centros de referência de hepatites localizados em diferentes regiões do Brasil. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Médica (CONEP nº 9604/2004). Todos os participantes sabiam ser portadores crônicos do HBV e deram seu consentimento por escrito para participar do estudo. Os formulários de consentimento foram registrados nos centros de referência e mantidos separadamente dos questionários. Os nomes dos pacientes não puderam ser vinculados a nenhum dado do estudo coletado.
Dei prioridade às evidências documentais, escritas ou orais, da presença histórica e cultural dos africanos, com o objetivo de centrar o foco na ação e no legado dos recém-chegados. Por outro lado, sabemos que a lista seria interminável se tivéssemos optado por reunir os Lugares de Memória dos descendentes de africanos no Brasil. O inventário é sobre os locais onde é possível lembrar a chegada dos africanos ou identificar as marcas de sua presença e intervenção.
Conjunto documental: Capitania do Rio de Janeiro- Data do documento: 3 de setembro de 1806 - Santa
Casa da misericórdia do Rio de Janeiro
“O sistema de saúde do escravo no Brasil do século XIX: instituições, doenças e práticas terapêuticas” tem por objetivo principal organizar um banco de dados. Neste banco, procuramos relacionar fontes que nos permitam futuramente gerar produtos e apresentar um panorama qualitativo e quantitativo dos múltiplos aspectos relacionados à saúde dos escravos. No momento, detemo-nos na análise do acervo documental do Arquivo da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Pretendemos mostrar nessa comunicação, fazendo uso da variada documentação encontrada nessa instituição, as possibilidades de elaboração de análises em torno desse tema, objeto de nosso estudo, o “sistema” de saúde do escravo. Não se trata aqui de apresentar resultados como os demonstrados por Karasch (2000). Seu estudo, até hoje incomparável sobre a saúde dos escravos no Rio de Janeiro, baseia-se fundamentalmente na documentação desse mesmo arquivo, mas de “oferecer”.
Os registros de óbitos da santa Casa de misericórdia do Rio de Janeiro, 1835-1849.
A densidade populacional das freguesias urbanas nos remete a uma infraestrutura material básica necessária ao atendimento das necessidades mínimas de um contingente populacional:
Introdução da obra que esse quadro se origina de duas fontes: o registro de óbitos da Santa Casa de Misericórdia, comparados aos censos de 1834, 1838 e 1849 e os dados para 1847, fornecidos pelo Dr.Haddock Lobo em seu estudo sobre a mortalidade do Rio de Janeiro
A partir da Independência, a fiscalização do comércio de secos e molhados impróprios ao consumo, das condições gerais de higiene pública, bem como o policiamento das posturas urbanas, das farmácias e do exercício da medicina estiveram a cargo da Fisicatura, auxiliada pelas câmaras municipais e pela inspetoria de polícia. Na corte ou nas províncias pululavam os vendedores ambulantes de remédios secretos. A população não associava competência terapêutica aos diplomas oficiais, e as autoridades faziam vista grossa à multiplicidade de anúncios que ofereciam remédios que prometiam curas imediatas para os mais diversos males. Em 1828, foi extinta a Fisicatura, como órgão do governo responsável pela fiscalização sanitária e regulamentação das artes terapêuticas. Sangradores e curandeiros foram definitivamente postos na ilegalidade. Finda a Fisicatura, os Inspetores de Saúde dos governos provinciais iniciaram a fiscalização dos fatores urbanos que se acreditava estarem implicados na produção das doenças. Somente em 1850, em seguida à primeira epidemia de febre amarela, foi criado um órgão central responsável pela gestão sanitária do Império, a Junta Central de Higiene Pública.
O funcionamento do Cais do Valongo foi o período de maior entrada no Brasil de africanos destinados a escravização e teve seu ápice comercial na década de 1820. Esse comércio gerou avanços na tecnologia de navegação uma vez que eram necessários métodos cada vez mais seguros para o transporte de uma “mercadoria”, viva, entre um continente e outro. O local do embarque e desembarque deveriam ser seguros e de fácil condução dos escravizados. Esse infame comércio exigia uma meticulosa logística.
Nos locais do desembarque havia os barracões que tinham como finalidade servir para o depósito daqueles que chegavam desidratados, enfermos e esfomeados. Para esses, havia uma espécie de quarentena que servia para que pudessem se recuperar da viagem, ganhar peso, aprender um pouco o português e, assim, aumentar seu valor de venda. Nesse período recebiam muda de roupa e tinham suas chagas tratadas, às vezes tendo como base as “sangrias” feitas por “barbeiros” negros. Após essa recuperação, eram conduzidos para os galpões a fim de que fossem vendidos por comerciantes. O historiador Júlio Pereira chama a atenção para a concentração de todo o processo que envolvia a chegada e o “armazenamento” de escravos na área do Valongo e a permanência de cenas anteriormente condenadas pelo Marques do Lavradio, na ocasião da sua proposta de transferência do comércio. Se o Marquês pretendia acabar com o costume de escravos fazerem suas necessidades em público ou andarem nus, no Valongo essa prática ainda existia. Os africanos eram espancados, jogados ao chão sujo e permaneciam em miseráveis habitações, segundo o relato de um viajante. Pouco havia mudado, apenas o local da barbárie. A alta taxa de mortalidade existente entre o desembarque, a quarentena e a exposição no mercado (dinâmica do comércio de escravos na cidade) justificavam a existência de um cemitério nas proximidades. Antes do Valongo, os enterros dos pretos novos ocorriam no Largo Santa Rita, podendo ficar o corpo exposto à luz do sol. Com a transferência do comércio há também a criação de um novo local de enterramentos, a “rua do cemitério”.19 Essa transferência também não agradou aos moradores da Gamboa que recebiam o indesejado vizinho. O medo era por conta dos riscos à saúde que acreditava-se correr diante da convivência desses moradores com a área de enterramento dos africanos recém desembarcados. A fiscalização feita por médicos constatou o que se temia: a proximidade do cemitério e as péssimas condições no qual o morto era enterra
A falta de alimentação, roupas em combinação com os castigos, enfraqueciam-nos e preparavam-nos para serem liquidados por vírus, bacilos, bactérias e parasitas que floresciam na população densa do rio urbano. As ações intencionais ou não dos senhores contribuíam diretamente para o impacto de doenças específicas ou criavam indiretamente as condições nas quais uma moléstia contagiosa espalhava-se rapidamente pela população escrava. Além da grande quantidade de cadáveres num espaço pequeno, poderiam causar sérios danos à saúde e pediu-se, por isso, a sua transferência em 1825. A mobilização dos vizinhos contra o cemitério foi essencial, segundo Júlio Pereira, para o envio de comissões que avaliassem as péssimas condições denunciadas e, assim, deixá-las registradas.
Em vista dos dados apresentados nesse artigo, pode-se observar que as doenças infectocontagiosas ceifaram muitas vidas de trabalhadores escravos em Rio Grande na década de sessenta do século XIX, sendo a tuberculose a principal causa das mortes; seguida da disenteria, do tétano e da cólera. O segundo grupo de enfermidades que provocaram significativos casos de óbitos foram as moléstias do aparelho respiratório, tendo a pneumonia como “carro chefe” dos registros de falecimentos, seguida da bronquite, a qual sucumbiram muitos trabalhadores cativos. E o último grupo de moléstias apresentadas trouxe informações a respeito das doenças do sistema digestivo, que teve como principal causa dos falecimentos dos escravos a gastroenterite.
Cemitério dos Pretos Novos – Rio de Janeiro - (RJ)
Os africanos recém-chegados (os pretos novos) que não conseguiam resistir aos sofrimentos da viagem tinham como destino final uma vala comum onde seus corpos eram depositados e incinerados. O Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro registra, entre 1824 e 1830, um total de 5.868 mortes de pretos novos na Freguesia de Santa Rita. Em 1830, o cemitério foi fechado. Em função do aumento populacional da área, começou a ser criticado pelo fato de exalar mau cheiro pela região próxima e de gerar doenças na cidade. Os vestígios arqueológicos do Cemitério dos Pretos Novos foram recentemente descobertos, após obra de reforma em uma casa particular. No local foi criado o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. As investigações realizadas comprovaram a presença de uma população predominantemente jovem, originária da África Central.
Óbitos em Análise - Apenas de 13 de dezembro de 1824 a 27 de dezembro de 1825 foram sepultados 1.126 escravos, a grande maioria de escravos adultos do sexo masculino, 73%. Em segundo lugar figuram as escravas adultas, com uma taxa de 9,23% do total. Quanto às crianças, pode-se dizer que novamente o número de escravos do sexo masculino sobressai (cerca de 5,06% de meninos contra 2,93% de meninas). Pela taxa de mortalidade, somos tentados a achar que os homens morriam mais que as mulheres. Porém, essa ideia não pode ser sustentada frente a outros números, como o de entrada de escravos, que indicam que o número de homens era sempre maior que o de mulheres, fato este que gerava um problema na demografia escrava. Outros dados interessantes também foram retirados desse livro de Óbitos. Procuramos quantificar o último ano do cemitério a fim de verificarmos se a taxa de mortalidade se mantinha estável ou não. No caso de confirmação, poderíamos concluir que medidas para evitar a morte dos escravos não haviam sido tomadas. Se não confirmada nossa expectativa, restava apenas verificar quais foram as circunstâncias que trouxeram esta variação.
Como se pode observar, o número total de escravos enterrados caíra para 621, menor mesmo que o número de escravos homens no ano de 1825, que foi de 815. Entretanto, fica aqui um registro importante: a taxa de mortalidade estava caindo drasticamente, o que pode apontar para a hipótese de que o tráfico negreiro tenha diminuído às vésperas do cumprimento do acordo entre o Brasil e Inglaterra para o fim do Tráfico Transatlântico de escravos. O final do tráfico previamente anunciado elevava o preço do escravo por conta do risco, mas diminuía a entrada de negros novos pelo porto do Rio de Janeiro, consequentemente, o número de sepultamentos também diminuía. Isto prova que o cemitério dos Pretos Novos era exclusivamente destinado ao sepultamento de escravos recém-chegados. O livro de óbitos do cemitério ainda nos indicou outro dado importante: a origem de cada escravo sepultado. Verificamos que quase 70% deles eram provenientes da África Central Atlântica, ou seja, do tronco linguístico banto e que tinham uma forma diferenciada de entender e de se comportar diante da morte8. Na cosmologia banto, o mundo encontrava-se dividido em duas partes que se completavam, ou seja, duas dimensões: a do mundo “perceptível” que seria está na qual vivemos, e a do mundo. Os números são alarmantes: seis mil pretos novos enterrados, sendo que dois mil apenas no ano de 1828. Apesar da magnitude dos números, pouco se sabe sobre as violências contra os mortos. Esse era o cenário da cidade que vivia a estranha combinação de ser o local de moradia de dois Imperadores e capital do Império e da escravidão.
Além dessa estranheza havia também a contradição de “realidades coloniais” no Brasil independente, segundo Kirsten Schultz. Uma delas, segundo esse autor, era a escravidão que parecia não combinar com uma nação independente que implementava um Império e que se colocava sob um escrutínio renovado. Esse Império que se pretendia civilizado, mas que permanecia com essa escravidão colonial, tinha nas vielas da Corte escravos carregando tabuleiros de frutas na cabeça, ou então levando senhoras e senhores nas cadeirinhas, e até mesmo trabalhando como barbeiros e praticando uma medicina com uso de sanguessugas e sangramento. Havia também os de ganho, que eram aqueles que poderiam exercer atividades na cidade desde que pagassem ao seu senhor uma certa quantia adquirida através desse trabalho. Todo esse cotidiano da escravidão no Rio de Janeiro foi documentado por viajantes e em especial pelo francês Jean Baptiste Debret que deixou registrado para os leitores contemporâneos a cidade escrava. Esses registros iconográficos confirmam a ideia de uma “cidade negra” e também “cidade esconderijo”, uma vez que o convívio entre escravos e libertos acabava permitindo algumas fugas e novas relações sociais. O perigo da “africanização” que, segundo Schultz, citando um observador da época, “cada nova importação de escravos, são novos combustíveis que se acumulam no vulcão” significava o prejuízo dessa forte dependência do Brasil dos escravos africanos. A solução seria o incentivo a reprodução escrava das “causas invisíveis” onde qualquer acontecimento excepcional, fosse bom ou ruim, era fruto de obras realizadas em outro mundo, por outro lado, os bantos praticavam o culto aos ancestrais, no qual a figura dos antepassados era de suma importância para cada linhagem bem como para o sucesso nas colheitas, na pesca, e para a manutenção da própria vida. Nesse sentido, morrer longe dos seus, ou não ser sepultado significava um corte drástico na manutenção da vida em comunidade. Morrer desta maneira significava ficar sem linhagem e sem uma perspectiva de vida futura (SILVA, 2002).
Além disto, o mar era visto como o um local da travessia para o mundo do além, ou, como na língua banto, a “Kalunga”, que fazia divisa com o lugar onde os mortos habitavam, que neste caso estava repleto de brancos9. É neste sentido que o conhecimento da cultura africana e o seu modo de encarar a morte nos serve como chave de entendimento do motivo pelo qual os escravos buscaram se filiarem à irmandades, como no caso da irmandade do Rosário (SOARES, 2000, p. 175). Em primeiro lugar eles temiam que seus os corpos fossem inumados sem nenhum tipo de ritual, lançados à terra sem nenhum paramento religioso, não porque temessem as covas da indigência, mas porque para eles morrer assim significava, antes de tudo, morrer longe dos seus ancestrais, e em segundo; ser sepultado no cemitério dos Pretos Novos significaria um corte definitivo na linhagem dos antepassados e a impossibilidade, no pensamento africano, de reviver junto aos seus do outro lado do Atlântico, no continente africano. O cemitério dos Pretos Novos estava cravado no Valongo desde 1769, quando o Marquês do Lavradio, insatisfeito com modo precário pelo qual os escravos eram expostos no mercado que funcionava próximo ao Paço Imperial, mandou que o mesmo fosse transferido para o Valongo que, hoje compreende a atual zona portuária, formada pelos bairros da Gamboa e Santo Cristo. Essa mudança do mercado da Praça XV para o Valongo fez com que o cemitério dos Pretos Novos fosse transportado do largo de Santa Rita para a rua que ficou conhecida como a antiga Rua do Cemitério, depois Rua da Harmonia e hoje, Rua Pedro Ernesto pertencente ainda à jurisdição da freguesia de Santa Rita. Foi nesse período que o cemitério vivenciou a maior concentração de corpos. No final do século XVIII, a concentração comercial no local trouxe um aumento populacional intenso (LAMARÃO, 1991), fazendo com que o cemitério fosse cercado de casas. Ocorreu um “adensamento populacional na região do bairro Saúde, Valongo e da Gamboa, onde morros, encostas e enseadas são paulatinamente ocupadas por residências” (RODRIGUES,1997, p. 71). O entorno do cemitério foi tomado por casas, geralmente por famílias pobres e que não tinham condição de se mudar da freguesia de Santa Rita, quer fosse por conta das poucas obras de aterramento; quer fosse por se tratar de pessoas pobres, sobretudo negros libertos que precisavam estar junto ao porto e ao centro comercial da cidade para poder ganhar alguns réis para sua subsistência. Ou seja, os vivos, por forças das circunstâncias, se tornaram vizinhos dos mortos. Seguir os vestígios do cemitério dos Pretos Novos é, também, seguir os rastros deixados pelas reclamações e ofícios de queixas contra o mesmo. A partir de 1820, pode-se encontrar vários protestos que descrevem o cemitério da pior forma possível, geralmente versando sobre o mau cheiro ali exalado10 e acusando-o dos miasmas que grassavam na cidade.
Não tardou muito e, em 1821, os vizinhos do “indesejável” cemitério redigiram dois requerimentos endereçados ao príncipe regente, nos quais pediam que o cemitério fosse transferido para um local “mais remoto”, “em razão dos grandes males” produzidos à população local. O primeiro destes dizia que os moradores “sofriam” enfermidades, e o segundo destes requerimentos tinha um teor bem parecido: Já não podem sofrer mais danos nas suas saúdes. Por causa do cemitério dos pretos novos, que se acha sito entre eles, em razão de nunca serem bem enterrados os cadáveres; como também por ser mito impróprio em semelhante lugar haver o referido cemitério, por ser hoje ema das grandes povoações (CUNHA, 1822).
Como se pode ver no requerimento a cima, os corpos não eram enterrados, ou seja, eram deixados à flor da terra, sem nenhum tipo de cuidado, o que deve ter feito com que os odores dos cadáveres insepultos incomodassem os vizinhos sobremaneira. No caso do cemitério dos Pretos Novos, o intendente de polícia João Inácio da Cunha solicitou ao juiz do crime do bairro de Santa Rita que fosse averiguar os fatos. Quando o juiz se dirigiu ao cemitério, teve péssimas impressões e, mais tarde, responderia em outro ofício o que havia constatado. Segundo o seu parecer, o cemitério já era pequeno para tantos corpos o local era “impróprio para semelhante fim”, e, por outro lado, o drama dos moradores era o de agora, depois do crescimento da cidade, se verem lado a lado a um cemitério de escravos. As testemunhas do Valongo foram arroladas e ouvidas pelo juiz do Crime e todas elas contaram a mesma versão: o cemitério incomodava, cheirava mal e estava abandonado. Observando o rol das testemunhas nota-se que todas eram brancas, apenas uma era militar e o restante era, em sua maioria, comerciantes que provavelmente, mais do que as suas saúdes, viram ameaçados os seus bolsos por terem um cemitério malcuidado por vizinho. É importante observar que esse número de pessoas arroladas como testemunhas não pode servir como única fonte de amostragem da condição social dos moradores do Valongo; por certo, esses moradores que redigiram as petições tinham acesso às informações médicas que circulavam nos meios de comunicação disponível aos letrados. No ano seguinte, em 12 de março de 1822, o intendente de polícia se dirigiu até a Secretaria de Estado para prestar as informações e sugerir soluções sobre o caso. Em primeiro lugar ele disse que se achava “aquele lugar já quase todo rodeado de casas.” Em seguida, relata sobre o mal estado do cemitério que tinha apenas uma cerca de esteiras como fundo do terreno, paredes laterais baixas que davam ao cemitério a impressão de inacabado e uma pequena “cruz de paus toscos”, por lembrança da égide da Igreja naquele local. Segundo o intendente de Polícia, não era fácil se encontrar um outro lugar para sepultamento, principalmente um que fosse próximo ao porto.
Não é fácil, porém achar-se terreno [...] as circunstâncias [...] para servir de cemitério; porque perto não o há, e longe é um tanto incômodo para a condução dos cadáveres; e então pertencia a outra freguesia, em prejuízo dos rendimentos e do atual vigário (CUNHA, 1822).
Ao mesmo tempo, o intendente de polícia nos revela um episódio novo, uma suposta disputa pela posse do cemitério, ou seja, pela renda dele advinda. Fontes indicam que, anteriormente, já havia sido sugerida a mudança do cemitério para outro lugar, bem como o desmembramento da freguesia. Em 1814, pois, segundo solicitaçã
dos moradores do Valongo, o cemitério passaria à freguesia de Santana. No entanto, o vigário de Santa Rita, temendo a perda “dos advindos dos trabalhos paroquiais exercidos no dito”12, conseguiu manter o cemitério sob sua jurisdição e renda proveniente dos sepultamentos. Por último, o intendente dá as ordens para que se melhore o enterramento naquele local: Que se ordene ao vigário da freguesia da Santa Rita, a cujo distrito pertence o cemitério, que contrate o terreno que lhe fica coontíguo para aumentar o cemitério existente, que o cerque todo de muro alto pelos quatro lados; que ponha pessoa capaz, que cuida em fazer enterrar bem os corpos; e finalmente que olhe para a decência, e decoro do cemitério como deve, e é de esperar do seu caráter, conhecimentos e probidade. (CUNHA, 1822).
Os documentos do Arquivo Geral da Cidade não possibilitaram verificar se o cemitério de fato fora aumentado ou se fora trazida uma “pessoa capaz em fazer enterrar os corpos”. No entanto, as reclamações dos moradores cessaram pelo menos por um tempo e, entre 1823 e 1828, não se ouviu mais falar no cemitério. Em 23 de janeiro de 1829, o editorial do jornal Aurora Fluminense rompeu esse silêncio e publicou uma matéria contra o “cemitério dos Pretos Novos”. O teor do publicado é praticamente o mesmo de 1822. Voltavam as mesmas reclamações após seis anos, com os moradores mobilizados novamente para pressionar o poder público. Mais uma vez os vivos já não aceitavam conviver “parede e meia” com os mortos. Ao final da década de vinte de 1800, as diversas transformações que ocorreram no perímetro urbano, aliada as constantes epidemias que graçavam na cidade motivaram o surgimento de novas posturas municipais que regulassem o espaço público, saneando as prisões, açougues e matadouros. Nota-se uma forte influência do higienismo que procura legitimar e tomar para si, aliado ao Estado, um novo campo de ação (COSTA, 1983). A proposta é a de que se deixe a prática de sepultamentos intramuros, ou seja, dentro da cidade, e se procurasse criar cemitérios fora da área urbana, onde os odores e miasmas seriam afastados do contato como os vivos. Em 1829, o Juiz Presidente da Câmara da Corte Luiz Paulo de Araújo Bastos remeteu um ofício à Câmara Municipal, alegando ser o “assunto da competência da municipalidade, devido a um decreto imperial de 1828”. Segundo o mesmo, a Câmara deveria ser incumbida da transferência de cemitérios para fora dos templos, “bem como tudo o que fosse relativo à saúde pública” (RODRIGUES, 1987, p. 77). Em 13 de março de 1830, se deu o último sepultamento no cemitério dos Pretos Novos, fim do cemitério. As pesquisas podem indicar que o fim provável do cemitério, não tenha sido ocasionado pela pressão higienista, nem dos meios de comunicação, ou mesmo fruto do clamor dos moradores. A hipótese mais aceita sobre o fechamento do campo santo é a de que em 1830, por ter se dado o acordo de proibição de tráfico de escravos, firmado entre Brasil e Inglaterra, o Brasil tenha sido forçado a extinguir o campo santo por não poder justificar a existência de um cemitério de escravos recém-chegados da África, em face de, pelo menos em tese, não haver mais tráfico negreiro14. Do século XIV até o século XVIII, o local de inumação foi se diferenciando de acordo com a classe social à qual pertencia o morto, bem como o seu lugar de enterro e o modo de fazê-lo. Entretanto, a desigualdade terrena se refletia na hora derradeira.
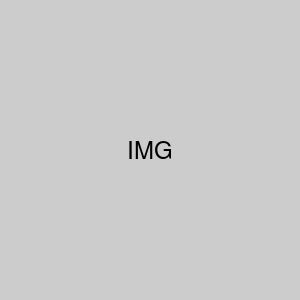
Os africanos eram espancados, jogados ao chão sujo e permaneciam em miseráveis habitações, segundo o relato de um viajante. Pouco havia mudado, apenas o local da barbárie. A alta taxa de mortalidade existente entre o desembarque, a quarentena e a exposição no mercado (dinâmica do comércio de escravos na cidade) justificavam a existência de um cemitério nas proximidades. Antes do Valongo, os enterros dos pretos novos ocorriam no Largo Santa Rita, podendo ficar o corpo exposto à luz do sol. Com a transferência do comércio há também a criação de um novo local de enterramentos, a “rua do cemitério”.19 Essa transferência também não agradou aos moradores da Gamboa que recebiam o indesejado vizinho. O medo era por conta dos riscos à saúde que acreditava-se correr diante da convivência desses moradores coárea de enterramento dos africanos recém desembarcados. A fiscalização feita por médicos constatou o que se temia: a proximidade do cemitério e as péssimas condições no qual o morto era enterrado. Além da grande quantidade de cadáveres num espaço pequeno, poderiam causar sérios danos à saúde e pediu-se, por isso, a sua transferência em 1825.20 A mobilização dos vizinhos contra o cemitério foi essencial, segundo Júlio Pereira, para o envio de comissões que avaliassem as péssimas condições denunciadas e, assim, deixá-las registradas.21 Os números são alarmantes: seis mil pretos novos enterrados, sendo que dois mil apenas no ano de 1828. Apesar da magnitude dos números, pouco se sabe sobre as violências contra os mortos. Esse era o cenário da cidade que vivia a estranha combinação de ser o local de moradia de dois Imperadores e capital do Império e da escravidão. Além dessa estranheza havia também a contradição de “realidades coloniais” no Brasil independente, segundo Kirsten Schultz. Uma delas, segundo esse autor, era a escravidão que parecia não combinar com uma nação independente que implementava um Império e que se colocava sob um escrutínio renovado. Esse Império que se pretendia civilizado, mas que permanecia com essa escravidão colonial, tinha nas vielas da Corte escravos carregando tabuleiros de frutas na cabeça, ou então levando senhoras e senhores nas cadeirinhas, e até mesmo trabalhando como barbeiros e praticando uma medicina com uso de sanguessugas e sangramento. Havia também os de ganho, que eram aqueles que poderiam exercer atividades na cidade desde que pagassem ao seu senhor uma certa quantia adquirida através desse trabalho. Todo esse cotidiano da escravidão no Rio de Janeiro foi documentado por viajantes e em especial pelo francês Jean Baptiste Debret que deixou registrado para os leitores contemporâneos a cidade escrava. Esses registros iconográficos confirmam a ideia de uma “cidade negra” e também “cidade esconderijo”, uma vez que o convívio entre escravos e libertos acabava permitindo algumas fugas e novas relações sociais.25 O perigo da “africanização” que, segundo Schultz, citando um observador da época, “cada nova importação de escravos, são novos combustíveis que se acumulam no vulcão” significava o prejuízo dessa forte dependência do Brasil dos escravos africanos. A solução seria o incentivo a reprodução escrava.
Do século XIV até o século XVIII, o local de inumação foi se diferenciando de acordo com a classe social à qual pertencia o morto, bem como o seu lugar de enterro e o modo de fazê-lo. Entretanto, a desigualdade terrena se refletia na hora derradeira em que, a alma iria prestar contas do que fez por aqui. Entende-se, pois, que logo há separação entre “mortos” e “mortos”, de sorte que os despossuídos desta vida terrena podiam ser lançados em um lugar qualquer, sem assistência, nem ritual fúnebre, ou seja, à flor da terra. Uma dificuldade ao identificar as informações registradas nos documentos de óbitos quanto à causa morte ocorre devido às diferenças do que atualmente são definidas como causa. Nos registros do século XIX, são consideradas causas morte elementos, hoje, tratados como sintomas de doenças e não a doença propriamente dita, como: inflamação, febre e dor de cabeça. Causas como: de repente, morte natural, de doença e doença crônica, também são elementos quase impossíveis de logo, os registros têm falhas em termos estatísticos, o que não invalida o seu uso, em especial pela História da Saúde. De acordo com os dados encontrados nos registros de óbitos, classificamos as causas morte em oito grupos de doenças:
I) Doenças Infecciosas e Parasitárias;
II)Doenças do Aparelho Respiratório;
III) Doenças do Aparelho Digestivo;
IV)Complicações de parto;
V) Acidentes, lesões e outras violências;
VI) Doenças da Pele e do Sistema Celular Subcutâneo;
VII) Causas morte mal definidas e
VIII) Doenças do Sistema Nervoso
Acredito importante ressaltar que entre tantas doenças a mais comum e as “Doenças do Aparelho Respiratório” representam 11,9% das causas morte com destaque para o defluxo, que era relacionado aos sintomas de gripe, como coriza e entupimento das vias nasais. Entre as “Doenças do Aparelho Digestivo” a causa mais representativa é a “hidropisia”. Entre as causas que mais acometiam os inocentes (crianças de 0 a 7 anos de idade) está mal de sete dias (Grupo I) e defluxo (Grupo II), que representam 41,2%. Porém, dos 60 registros de óbitos para esta categoria, somente 17 apresentaram a causa morte, o que dificulta saber qual a doença que tinha maior incidência. Mas se pode inferir que as complicações pós-parto entre os recém-nascidos, as precárias condições de salubridade e falta dos cuidados necessários eram as principais causas morte, pois dos 60 casos, 12 ocorreram até os 12 dias de vida, 30 até os seis meses de idade e 45 até o primeiro ano de vida. O grupo com mais causas morte é o VII (causas morte mal definidas), com destaque para a moléstia interna. No grupo que identificamos por “acidentes, lesões e outras violências” (Grupo V) verificamos algumas diferenças entre os sexos e as incidências de causa morte. Os ferimentos por arma branca ou por arma de fogo, os assassinatos, os desastres e outras situações violentas somente fizeram vítimas entre o sexo masculino, enquanto as queimaduras fizeram vítimas entre o sexo feminino. Isso leva a perceber os riscos ocupacionais de homens e mulheres o que pode refletir certos ofícios desempenhados por esta população. O trabalho escravo era importante na região de fronteira. Os escravos do sexo masculino podiam trabalhar em todas as atividades da produção agrária. Entre as mulheres, além de ofícios semelhantes aos dos homens, como a de roceiras, também desempenhavam os serviços domésticos, cuidavam das esposas de seus senhores nos partos e da família nas suas enfermidades, e ajudavam a cuidar dos filhos das mesmas (FARINATTI, 2007).
Entre os óbitos encontramos 22 ocorrências (26,2% do total de assentos) no grupo “Doenças Infecciosas e Parasitárias”. Desses, 9 assentos são referentes a varíola que era também denominada na época de bexiga e é uma das causas morte com maior incidência, 10,7% do total. Segundo Amantino (2007), o contágio desta doença se dava de forma direta (suor ou espirro) ou pelo contato com as secreções de um doente que poderiam contagiar outra pessoa que não estivesse imunizada ou pela vacina ou por já ter tido a moléstia. Doença esta que acometia em todo o Brasil e representava um grave problema de saúde pública para as autoridades brasileiras. As formas de contágio dessa doença são facilitadas em regiões que possuem determinadas características, como umidade ou insalubridade, propícias ao desenvolvimento desta e de outras enfermidades.
Importante observar que percebemos que os escravos do sexo masculino tiveram mais ocorrências de morte que o feminino. O trabalho de Luiz Augusto Farinatti traz alguns dados retirados dos censos e que são importantes para este estudo. Para o período de 1831 à 1850, ele constatou que a relação entre os sexos mostrava um desequilibro entre os escravos: 177 homens para cada 100 mulheres escravas. Essa alta taxa de masculinidade se deve também pela necessidade da mão-de-obra para as atividades econômicas do período, ainda que houvesse presença de mulheres e crianças, o que acentua a importância da escravidão, principalmente na produção pecuária.(FARINATTI, 2007, p. 242-243).
As mortes masculinas predominaram sobre as femininas nos Grupos: I, II, III e V.
Os escravos do sexo feminino tiveram maior incidência de óbitos nos Grupos IV e VIII, e equipararam-se ao sexo masculino, no grupo VII. O Grupo cinco, causas mortes classificadas por “acidentes, lesões e outras violências”, mostram-nos algumas diferenças entre os sexos, e as incidências de causa morte. Os ferimentos por arma branca ou por arma de fogo, os assassinatos, os desastres e outras situações violentas somente fizeram vítimas entre o sexo masculino, enquanto as queimaduras fizeram vítimas entre o sexo feminino. Isso leva a perceber os riscos ocupacionais de homens e mulheres o que pode refletir certos ofícios desempenhados por esta população.
O estudo dos inventários, em que os senhores declaravam os escravos e sua função. Nos inventários analisados por Farinatti (2007), foram encontradas poucas referências aos ofícios desempenhados pelas mulheres escravas, o destaque é referente ao trabalho doméstico. Segundo ele, é provável que as escravas fossem também roceiras nas pequenas propriedades, mesmo que não tenham sido encontrados dados referentes a esta ocupação. Entre os homens foram encontrados 53% de escravos com ofícios declarados nos inventários, entre eles o principal era o de campeiro, seguido pelo de roceiros. É provável que a maioria exercesse atividades agrícolas dentro das estâncias, pois os inventários apresentavam instrumentos agrícolas, já que os escravos eram empregados tanto na agricultura quanto no costeio do gado e serviços domésticos. (FARINATTI, 2007, p. 245-249) Por fim, ressaltamos a validade de uma metodologia baseada no estudo demográfico quantitativo, mesmo estando ciente de suas limitações. Este tipo de abordagem nos mostra apenas uma parcela da realidade vivenciada pelos escravos, porém nos traz considerações pertinentes ao aprofundamento da pesquisa quando relacionada a trabalhos qualitativos. Podemos usar essas informações como indicadores, ainda que iniciais, das condições da vida cativa em Alegrete neste período.
RODRIGUES, 2005, op. cit. p.303 O cemitério só foi fechado na ocasião do fim do tráfico em 1831. 21 PEREIRA, op. cit. 2007. Para maiores detalhes, ver PEREIRA, 2007, especialmente o ponto 2.3 “Cemitério e moradores do entorno: mobilização e propostas para o fim do cemitério do Valongo”, p. 77-97. 22 CARVALHO, José Murilo. “Prefácio”. PEREIRA, Júlio César Medeiros da Silva. À flor da terra: o cemitério dos pretos novos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Garamond: IPHAN, 2007, p. 12. 23 SCHULTZ, Kirsten. “A crise do império e a questão da escravidão. Portugal e Brasil, c. 1700 – c.1820”. In: Acervo. Rio de Janeiro, v. 21, nº1, p. 63-82, jan/jun2008. 24 Sobre escravidão urbana e escravo de ganho ver SILVA, Marilene Rosa Nogueira da. Negro na rua: a nova face da escravidão. São Paulo: Editora Hucitec, 1998. 25 CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade. Uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São Paulo: Companhia das letras, 1990.
“O sistema de saúde do escravo no Brasil do século XIX: instituições, doenças e práticas terapêuticas” tem por objetivo principal organizar um banco de dados. Neste banco, procuramos relacionar fontes que nos permitam futuramente gerar produtos e apresentar um panorama qualitativo e quantitativo dos múltiplos aspectos relacionados à saúde dos escravos. No momento, detemo-nos na análise do acervo documental do Arquivo da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Pretendemos mostrar nessa comunicação, fazendo uso da variada documentação encontrada nessa instituição, as possibilidades de elaboração de análises em torno desse tema, objeto de nosso estudo, o “sistema” de saúde do escravo. Não se trata aqui de apresentar resultados como os demonstrados por Karasch (2000). Seu estudo, até hoje incomparável sobre a saúde dos escravos no Rio de Janeiro, baseia-se fundamentalmente na documentação desse mesmo arquivo, mas de “oferecer”.
Os registros de óbitos da santa Casa de misericórdia do Rio de Janeiro, 1835-1849.
A densidade populacional das freguesias urbanas nos remete a uma infraestrutura material básica necessária ao atendimento das necessidades mínimas de um contingente populacional:
Introdução da obra que esse quadro se origina de duas fontes: o registro de óbitos da Santa Casa de Misericórdia, comparados aos censos de 1834, 1838 e 1849 e os dados para 1847, fornecidos pelo Dr.Haddock Lobo em seu estudo sobre a mortalidade do Rio de Janeiro
A partir da Independência, a fiscalização do comércio de secos e molhados impróprios ao consumo, das condições gerais de higiene pública, bem como o policiamento das posturas urbanas, das farmácias e do exercício da medicina estiveram a cargo da Fisicatura, auxiliada pelas câmaras municipais e pela inspetoria de polícia. Na corte ou nas províncias pululavam os vendedores ambulantes de remédios secretos. A população não associava competência terapêutica aos diplomas oficiais, e as autoridades faziam vista grossa à multiplicidade de anúncios que ofereciam remédios que prometiam curas imediatas para os mais diversos males. Em 1828, foi extinta a Fisicatura, como órgão do governo responsável pela fiscalização sanitária e regulamentação das artes terapêuticas. Sangradores e curandeiros foram definitivamente postos na ilegalidade. Finda a Fisicatura, os Inspetores de Saúde dos governos provinciais iniciaram a fiscalização dos fatores urbanos que se acreditava estarem implicados na produção das doenças. Somente em 1850, em seguida à primeira epidemia de febre amarela, foi criado um órgão central responsável pela gestão sanitária do Império, a Junta Central de Higiene Pública.
O funcionamento do Cais do Valongo foi o período de maior entrada no Brasil de africanos destinados a escravização e teve seu ápice comercial na década de 1820. Esse comércio gerou avanços na tecnologia de navegação uma vez que eram necessários métodos cada vez mais seguros para o transporte de uma “mercadoria”, viva, entre um continente e outro. O local do embarque e desembarque deveriam ser seguros e de fácil condução dos escravizados. Esse infame comércio exigia uma meticulosa logística.
Nos locais do desembarque havia os barracões que tinham como finalidade servir para o depósito daqueles que chegavam desidratados, enfermos e esfomeados. Para esses, havia uma espécie de quarentena que servia para que pudessem se recuperar da viagem, ganhar peso, aprender um pouco o português e, assim, aumentar seu valor de venda. Nesse período recebiam muda de roupa e tinham suas chagas tratadas, às vezes tendo como base as “sangrias” feitas por “barbeiros” negros. Após essa recuperação, eram conduzidos para os galpões a fim de que fossem vendidos por comerciantes. O historiador Júlio Pereira chama a atenção para a concentração de todo o processo que envolvia a chegada e o “armazenamento” de escravos na área do Valongo e a permanência de cenas anteriormente condenadas pelo Marques do Lavradio, na ocasião da sua proposta de transferência do comércio. Se o Marquês pretendia acabar com o costume de escravos fazerem suas necessidades em público ou andarem nus, no Valongo essa prática ainda existia. Os africanos eram espancados, jogados ao chão sujo e permaneciam em miseráveis habitações, segundo o relato de um viajante. Pouco havia mudado, apenas o local da barbárie. A alta taxa de mortalidade existente entre o desembarque, a quarentena e a exposição no mercado (dinâmica do comércio de escravos na cidade) justificavam a existência de um cemitério nas proximidades. Antes do Valongo, os enterros dos pretos novos ocorriam no Largo Santa Rita, podendo ficar o corpo exposto à luz do sol. Com a transferência do comércio há também a criação de um novo local de enterramentos, a “rua do cemitério”.19 Essa transferência também não agradou aos moradores da Gamboa que recebiam o indesejado vizinho. O medo era por conta dos riscos à saúde que acreditava-se correr diante da convivência desses moradores com a área de enterramento dos africanos recém desembarcados. A fiscalização feita por médicos constatou o que se temia: a proximidade do cemitério e as péssimas condições no qual o morto era enterra
A falta de alimentação, roupas em combinação com os castigos, enfraqueciam-nos e preparavam-nos para serem liquidados por vírus, bacilos, bactérias e parasitas que floresciam na população densa do rio urbano. As ações intencionais ou não dos senhores contribuíam diretamente para o impacto de doenças específicas ou criavam indiretamente as condições nas quais uma moléstia contagiosa espalhava-se rapidamente pela população escrava. Além da grande quantidade de cadáveres num espaço pequeno, poderiam causar sérios danos à saúde e pediu-se, por isso, a sua transferência em 1825. A mobilização dos vizinhos contra o cemitério foi essencial, segundo Júlio Pereira, para o envio de comissões que avaliassem as péssimas condições denunciadas e, assim, deixá-las registradas.
Em vista dos dados apresentados nesse artigo, pode-se observar que as doenças infectocontagiosas ceifaram muitas vidas de trabalhadores escravos em Rio Grande na década de sessenta do século XIX, sendo a tuberculose a principal causa das mortes; seguida da disenteria, do tétano e da cólera. O segundo grupo de enfermidades que provocaram significativos casos de óbitos foram as moléstias do aparelho respiratório, tendo a pneumonia como “carro chefe” dos registros de falecimentos, seguida da bronquite, a qual sucumbiram muitos trabalhadores cativos. E o último grupo de moléstias apresentadas trouxe informações a respeito das doenças do sistema digestivo, que teve como principal causa dos falecimentos dos escravos a gastroenterite.
Cemitério dos Pretos Novos – Rio de Janeiro - (RJ)
Os africanos recém-chegados (os pretos novos) que não conseguiam resistir aos sofrimentos da viagem tinham como destino final uma vala comum onde seus corpos eram depositados e incinerados. O Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro registra, entre 1824 e 1830, um total de 5.868 mortes de pretos novos na Freguesia de Santa Rita. Em 1830, o cemitério foi fechado. Em função do aumento populacional da área, começou a ser criticado pelo fato de exalar mau cheiro pela região próxima e de gerar doenças na cidade. Os vestígios arqueológicos do Cemitério dos Pretos Novos foram recentemente descobertos, após obra de reforma em uma casa particular. No local foi criado o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. As investigações realizadas comprovaram a presença de uma população predominantemente jovem, originária da África Central.
Óbitos em Análise - Apenas de 13 de dezembro de 1824 a 27 de dezembro de 1825 foram sepultados 1.126 escravos, a grande maioria de escravos adultos do sexo masculino, 73%. Em segundo lugar figuram as escravas adultas, com uma taxa de 9,23% do total. Quanto às crianças, pode-se dizer que novamente o número de escravos do sexo masculino sobressai (cerca de 5,06% de meninos contra 2,93% de meninas). Pela taxa de mortalidade, somos tentados a achar que os homens morriam mais que as mulheres. Porém, essa ideia não pode ser sustentada frente a outros números, como o de entrada de escravos, que indicam que o número de homens era sempre maior que o de mulheres, fato este que gerava um problema na demografia escrava. Outros dados interessantes também foram retirados desse livro de Óbitos. Procuramos quantificar o último ano do cemitério a fim de verificarmos se a taxa de mortalidade se mantinha estável ou não. No caso de confirmação, poderíamos concluir que medidas para evitar a morte dos escravos não haviam sido tomadas. Se não confirmada nossa expectativa, restava apenas verificar quais foram as circunstâncias que trouxeram esta variação.
Como se pode observar, o número total de escravos enterrados caíra para 621, menor mesmo que o número de escravos homens no ano de 1825, que foi de 815. Entretanto, fica aqui um registro importante: a taxa de mortalidade estava caindo drasticamente, o que pode apontar para a hipótese de que o tráfico negreiro tenha diminuído às vésperas do cumprimento do acordo entre o Brasil e Inglaterra para o fim do Tráfico Transatlântico de escravos. O final do tráfico previamente anunciado elevava o preço do escravo por conta do risco, mas diminuía a entrada de negros novos pelo porto do Rio de Janeiro, consequentemente, o número de sepultamentos também diminuía. Isto prova que o cemitério dos Pretos Novos era exclusivamente destinado ao sepultamento de escravos recém-chegados. O livro de óbitos do cemitério ainda nos indicou outro dado importante: a origem de cada escravo sepultado. Verificamos que quase 70% deles eram provenientes da África Central Atlântica, ou seja, do tronco linguístico banto e que tinham uma forma diferenciada de entender e de se comportar diante da morte8. Na cosmologia banto, o mundo encontrava-se dividido em duas partes que se completavam, ou seja, duas dimensões: a do mundo “perceptível” que seria está na qual vivemos, e a do mundo. Os números são alarmantes: seis mil pretos novos enterrados, sendo que dois mil apenas no ano de 1828. Apesar da magnitude dos números, pouco se sabe sobre as violências contra os mortos. Esse era o cenário da cidade que vivia a estranha combinação de ser o local de moradia de dois Imperadores e capital do Império e da escravidão.
Além dessa estranheza havia também a contradição de “realidades coloniais” no Brasil independente, segundo Kirsten Schultz. Uma delas, segundo esse autor, era a escravidão que parecia não combinar com uma nação independente que implementava um Império e que se colocava sob um escrutínio renovado. Esse Império que se pretendia civilizado, mas que permanecia com essa escravidão colonial, tinha nas vielas da Corte escravos carregando tabuleiros de frutas na cabeça, ou então levando senhoras e senhores nas cadeirinhas, e até mesmo trabalhando como barbeiros e praticando uma medicina com uso de sanguessugas e sangramento. Havia também os de ganho, que eram aqueles que poderiam exercer atividades na cidade desde que pagassem ao seu senhor uma certa quantia adquirida através desse trabalho. Todo esse cotidiano da escravidão no Rio de Janeiro foi documentado por viajantes e em especial pelo francês Jean Baptiste Debret que deixou registrado para os leitores contemporâneos a cidade escrava. Esses registros iconográficos confirmam a ideia de uma “cidade negra” e também “cidade esconderijo”, uma vez que o convívio entre escravos e libertos acabava permitindo algumas fugas e novas relações sociais. O perigo da “africanização” que, segundo Schultz, citando um observador da época, “cada nova importação de escravos, são novos combustíveis que se acumulam no vulcão” significava o prejuízo dessa forte dependência do Brasil dos escravos africanos. A solução seria o incentivo a reprodução escrava das “causas invisíveis” onde qualquer acontecimento excepcional, fosse bom ou ruim, era fruto de obras realizadas em outro mundo, por outro lado, os bantos praticavam o culto aos ancestrais, no qual a figura dos antepassados era de suma importância para cada linhagem bem como para o sucesso nas colheitas, na pesca, e para a manutenção da própria vida. Nesse sentido, morrer longe dos seus, ou não ser sepultado significava um corte drástico na manutenção da vida em comunidade. Morrer desta maneira significava ficar sem linhagem e sem uma perspectiva de vida futura (SILVA, 2002).
Além disto, o mar era visto como o um local da travessia para o mundo do além, ou, como na língua banto, a “Kalunga”, que fazia divisa com o lugar onde os mortos habitavam, que neste caso estava repleto de brancos9. É neste sentido que o conhecimento da cultura africana e o seu modo de encarar a morte nos serve como chave de entendimento do motivo pelo qual os escravos buscaram se filiarem à irmandades, como no caso da irmandade do Rosário (SOARES, 2000, p. 175). Em primeiro lugar eles temiam que seus os corpos fossem inumados sem nenhum tipo de ritual, lançados à terra sem nenhum paramento religioso, não porque temessem as covas da indigência, mas porque para eles morrer assim significava, antes de tudo, morrer longe dos seus ancestrais, e em segundo; ser sepultado no cemitério dos Pretos Novos significaria um corte definitivo na linhagem dos antepassados e a impossibilidade, no pensamento africano, de reviver junto aos seus do outro lado do Atlântico, no continente africano. O cemitério dos Pretos Novos estava cravado no Valongo desde 1769, quando o Marquês do Lavradio, insatisfeito com modo precário pelo qual os escravos eram expostos no mercado que funcionava próximo ao Paço Imperial, mandou que o mesmo fosse transferido para o Valongo que, hoje compreende a atual zona portuária, formada pelos bairros da Gamboa e Santo Cristo. Essa mudança do mercado da Praça XV para o Valongo fez com que o cemitério dos Pretos Novos fosse transportado do largo de Santa Rita para a rua que ficou conhecida como a antiga Rua do Cemitério, depois Rua da Harmonia e hoje, Rua Pedro Ernesto pertencente ainda à jurisdição da freguesia de Santa Rita. Foi nesse período que o cemitério vivenciou a maior concentração de corpos. No final do século XVIII, a concentração comercial no local trouxe um aumento populacional intenso (LAMARÃO, 1991), fazendo com que o cemitério fosse cercado de casas. Ocorreu um “adensamento populacional na região do bairro Saúde, Valongo e da Gamboa, onde morros, encostas e enseadas são paulatinamente ocupadas por residências” (RODRIGUES,1997, p. 71). O entorno do cemitério foi tomado por casas, geralmente por famílias pobres e que não tinham condição de se mudar da freguesia de Santa Rita, quer fosse por conta das poucas obras de aterramento; quer fosse por se tratar de pessoas pobres, sobretudo negros libertos que precisavam estar junto ao porto e ao centro comercial da cidade para poder ganhar alguns réis para sua subsistência. Ou seja, os vivos, por forças das circunstâncias, se tornaram vizinhos dos mortos. Seguir os vestígios do cemitério dos Pretos Novos é, também, seguir os rastros deixados pelas reclamações e ofícios de queixas contra o mesmo. A partir de 1820, pode-se encontrar vários protestos que descrevem o cemitério da pior forma possível, geralmente versando sobre o mau cheiro ali exalado10 e acusando-o dos miasmas que grassavam na cidade.
Não tardou muito e, em 1821, os vizinhos do “indesejável” cemitério redigiram dois requerimentos endereçados ao príncipe regente, nos quais pediam que o cemitério fosse transferido para um local “mais remoto”, “em razão dos grandes males” produzidos à população local. O primeiro destes dizia que os moradores “sofriam” enfermidades, e o segundo destes requerimentos tinha um teor bem parecido: Já não podem sofrer mais danos nas suas saúdes. Por causa do cemitério dos pretos novos, que se acha sito entre eles, em razão de nunca serem bem enterrados os cadáveres; como também por ser mito impróprio em semelhante lugar haver o referido cemitério, por ser hoje ema das grandes povoações (CUNHA, 1822).
Como se pode ver no requerimento a cima, os corpos não eram enterrados, ou seja, eram deixados à flor da terra, sem nenhum tipo de cuidado, o que deve ter feito com que os odores dos cadáveres insepultos incomodassem os vizinhos sobremaneira. No caso do cemitério dos Pretos Novos, o intendente de polícia João Inácio da Cunha solicitou ao juiz do crime do bairro de Santa Rita que fosse averiguar os fatos. Quando o juiz se dirigiu ao cemitério, teve péssimas impressões e, mais tarde, responderia em outro ofício o que havia constatado. Segundo o seu parecer, o cemitério já era pequeno para tantos corpos o local era “impróprio para semelhante fim”, e, por outro lado, o drama dos moradores era o de agora, depois do crescimento da cidade, se verem lado a lado a um cemitério de escravos. As testemunhas do Valongo foram arroladas e ouvidas pelo juiz do Crime e todas elas contaram a mesma versão: o cemitério incomodava, cheirava mal e estava abandonado. Observando o rol das testemunhas nota-se que todas eram brancas, apenas uma era militar e o restante era, em sua maioria, comerciantes que provavelmente, mais do que as suas saúdes, viram ameaçados os seus bolsos por terem um cemitério malcuidado por vizinho. É importante observar que esse número de pessoas arroladas como testemunhas não pode servir como única fonte de amostragem da condição social dos moradores do Valongo; por certo, esses moradores que redigiram as petições tinham acesso às informações médicas que circulavam nos meios de comunicação disponível aos letrados. No ano seguinte, em 12 de março de 1822, o intendente de polícia se dirigiu até a Secretaria de Estado para prestar as informações e sugerir soluções sobre o caso. Em primeiro lugar ele disse que se achava “aquele lugar já quase todo rodeado de casas.” Em seguida, relata sobre o mal estado do cemitério que tinha apenas uma cerca de esteiras como fundo do terreno, paredes laterais baixas que davam ao cemitério a impressão de inacabado e uma pequena “cruz de paus toscos”, por lembrança da égide da Igreja naquele local. Segundo o intendente de Polícia, não era fácil se encontrar um outro lugar para sepultamento, principalmente um que fosse próximo ao porto.
Não é fácil, porém achar-se terreno [...] as circunstâncias [...] para servir de cemitério; porque perto não o há, e longe é um tanto incômodo para a condução dos cadáveres; e então pertencia a outra freguesia, em prejuízo dos rendimentos e do atual vigário (CUNHA, 1822).
Ao mesmo tempo, o intendente de polícia nos revela um episódio novo, uma suposta disputa pela posse do cemitério, ou seja, pela renda dele advinda. Fontes indicam que, anteriormente, já havia sido sugerida a mudança do cemitério para outro lugar, bem como o desmembramento da freguesia. Em 1814, pois, segundo solicitaçã
dos moradores do Valongo, o cemitério passaria à freguesia de Santana. No entanto, o vigário de Santa Rita, temendo a perda “dos advindos dos trabalhos paroquiais exercidos no dito”12, conseguiu manter o cemitério sob sua jurisdição e renda proveniente dos sepultamentos. Por último, o intendente dá as ordens para que se melhore o enterramento naquele local: Que se ordene ao vigário da freguesia da Santa Rita, a cujo distrito pertence o cemitério, que contrate o terreno que lhe fica coontíguo para aumentar o cemitério existente, que o cerque todo de muro alto pelos quatro lados; que ponha pessoa capaz, que cuida em fazer enterrar bem os corpos; e finalmente que olhe para a decência, e decoro do cemitério como deve, e é de esperar do seu caráter, conhecimentos e probidade. (CUNHA, 1822).
Os documentos do Arquivo Geral da Cidade não possibilitaram verificar se o cemitério de fato fora aumentado ou se fora trazida uma “pessoa capaz em fazer enterrar os corpos”. No entanto, as reclamações dos moradores cessaram pelo menos por um tempo e, entre 1823 e 1828, não se ouviu mais falar no cemitério. Em 23 de janeiro de 1829, o editorial do jornal Aurora Fluminense rompeu esse silêncio e publicou uma matéria contra o “cemitério dos Pretos Novos”. O teor do publicado é praticamente o mesmo de 1822. Voltavam as mesmas reclamações após seis anos, com os moradores mobilizados novamente para pressionar o poder público. Mais uma vez os vivos já não aceitavam conviver “parede e meia” com os mortos. Ao final da década de vinte de 1800, as diversas transformações que ocorreram no perímetro urbano, aliada as constantes epidemias que graçavam na cidade motivaram o surgimento de novas posturas municipais que regulassem o espaço público, saneando as prisões, açougues e matadouros. Nota-se uma forte influência do higienismo que procura legitimar e tomar para si, aliado ao Estado, um novo campo de ação (COSTA, 1983). A proposta é a de que se deixe a prática de sepultamentos intramuros, ou seja, dentro da cidade, e se procurasse criar cemitérios fora da área urbana, onde os odores e miasmas seriam afastados do contato como os vivos. Em 1829, o Juiz Presidente da Câmara da Corte Luiz Paulo de Araújo Bastos remeteu um ofício à Câmara Municipal, alegando ser o “assunto da competência da municipalidade, devido a um decreto imperial de 1828”. Segundo o mesmo, a Câmara deveria ser incumbida da transferência de cemitérios para fora dos templos, “bem como tudo o que fosse relativo à saúde pública” (RODRIGUES, 1987, p. 77). Em 13 de março de 1830, se deu o último sepultamento no cemitério dos Pretos Novos, fim do cemitério. As pesquisas podem indicar que o fim provável do cemitério, não tenha sido ocasionado pela pressão higienista, nem dos meios de comunicação, ou mesmo fruto do clamor dos moradores. A hipótese mais aceita sobre o fechamento do campo santo é a de que em 1830, por ter se dado o acordo de proibição de tráfico de escravos, firmado entre Brasil e Inglaterra, o Brasil tenha sido forçado a extinguir o campo santo por não poder justificar a existência de um cemitério de escravos recém-chegados da África, em face de, pelo menos em tese, não haver mais tráfico negreiro14. Do século XIV até o século XVIII, o local de inumação foi se diferenciando de acordo com a classe social à qual pertencia o morto, bem como o seu lugar de enterro e o modo de fazê-lo. Entretanto, a desigualdade terrena se refletia na hora derradeira.
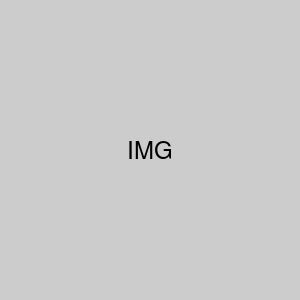
Os africanos eram espancados, jogados ao chão sujo e permaneciam em miseráveis habitações, segundo o relato de um viajante. Pouco havia mudado, apenas o local da barbárie. A alta taxa de mortalidade existente entre o desembarque, a quarentena e a exposição no mercado (dinâmica do comércio de escravos na cidade) justificavam a existência de um cemitério nas proximidades. Antes do Valongo, os enterros dos pretos novos ocorriam no Largo Santa Rita, podendo ficar o corpo exposto à luz do sol. Com a transferência do comércio há também a criação de um novo local de enterramentos, a “rua do cemitério”.19 Essa transferência também não agradou aos moradores da Gamboa que recebiam o indesejado vizinho. O medo era por conta dos riscos à saúde que acreditava-se correr diante da convivência desses moradores coárea de enterramento dos africanos recém desembarcados. A fiscalização feita por médicos constatou o que se temia: a proximidade do cemitério e as péssimas condições no qual o morto era enterrado. Além da grande quantidade de cadáveres num espaço pequeno, poderiam causar sérios danos à saúde e pediu-se, por isso, a sua transferência em 1825.20 A mobilização dos vizinhos contra o cemitério foi essencial, segundo Júlio Pereira, para o envio de comissões que avaliassem as péssimas condições denunciadas e, assim, deixá-las registradas.21 Os números são alarmantes: seis mil pretos novos enterrados, sendo que dois mil apenas no ano de 1828. Apesar da magnitude dos números, pouco se sabe sobre as violências contra os mortos. Esse era o cenário da cidade que vivia a estranha combinação de ser o local de moradia de dois Imperadores e capital do Império e da escravidão. Além dessa estranheza havia também a contradição de “realidades coloniais” no Brasil independente, segundo Kirsten Schultz. Uma delas, segundo esse autor, era a escravidão que parecia não combinar com uma nação independente que implementava um Império e que se colocava sob um escrutínio renovado. Esse Império que se pretendia civilizado, mas que permanecia com essa escravidão colonial, tinha nas vielas da Corte escravos carregando tabuleiros de frutas na cabeça, ou então levando senhoras e senhores nas cadeirinhas, e até mesmo trabalhando como barbeiros e praticando uma medicina com uso de sanguessugas e sangramento. Havia também os de ganho, que eram aqueles que poderiam exercer atividades na cidade desde que pagassem ao seu senhor uma certa quantia adquirida através desse trabalho. Todo esse cotidiano da escravidão no Rio de Janeiro foi documentado por viajantes e em especial pelo francês Jean Baptiste Debret que deixou registrado para os leitores contemporâneos a cidade escrava. Esses registros iconográficos confirmam a ideia de uma “cidade negra” e também “cidade esconderijo”, uma vez que o convívio entre escravos e libertos acabava permitindo algumas fugas e novas relações sociais.25 O perigo da “africanização” que, segundo Schultz, citando um observador da época, “cada nova importação de escravos, são novos combustíveis que se acumulam no vulcão” significava o prejuízo dessa forte dependência do Brasil dos escravos africanos. A solução seria o incentivo a reprodução escrava.
Do século XIV até o século XVIII, o local de inumação foi se diferenciando de acordo com a classe social à qual pertencia o morto, bem como o seu lugar de enterro e o modo de fazê-lo. Entretanto, a desigualdade terrena se refletia na hora derradeira em que, a alma iria prestar contas do que fez por aqui. Entende-se, pois, que logo há separação entre “mortos” e “mortos”, de sorte que os despossuídos desta vida terrena podiam ser lançados em um lugar qualquer, sem assistência, nem ritual fúnebre, ou seja, à flor da terra. Uma dificuldade ao identificar as informações registradas nos documentos de óbitos quanto à causa morte ocorre devido às diferenças do que atualmente são definidas como causa. Nos registros do século XIX, são consideradas causas morte elementos, hoje, tratados como sintomas de doenças e não a doença propriamente dita, como: inflamação, febre e dor de cabeça. Causas como: de repente, morte natural, de doença e doença crônica, também são elementos quase impossíveis de logo, os registros têm falhas em termos estatísticos, o que não invalida o seu uso, em especial pela História da Saúde. De acordo com os dados encontrados nos registros de óbitos, classificamos as causas morte em oito grupos de doenças:
I) Doenças Infecciosas e Parasitárias;
II)Doenças do Aparelho Respiratório;
III) Doenças do Aparelho Digestivo;
IV)Complicações de parto;
V) Acidentes, lesões e outras violências;
VI) Doenças da Pele e do Sistema Celular Subcutâneo;
VII) Causas morte mal definidas e
VIII) Doenças do Sistema Nervoso
Acredito importante ressaltar que entre tantas doenças a mais comum e as “Doenças do Aparelho Respiratório” representam 11,9% das causas morte com destaque para o defluxo, que era relacionado aos sintomas de gripe, como coriza e entupimento das vias nasais. Entre as “Doenças do Aparelho Digestivo” a causa mais representativa é a “hidropisia”. Entre as causas que mais acometiam os inocentes (crianças de 0 a 7 anos de idade) está mal de sete dias (Grupo I) e defluxo (Grupo II), que representam 41,2%. Porém, dos 60 registros de óbitos para esta categoria, somente 17 apresentaram a causa morte, o que dificulta saber qual a doença que tinha maior incidência. Mas se pode inferir que as complicações pós-parto entre os recém-nascidos, as precárias condições de salubridade e falta dos cuidados necessários eram as principais causas morte, pois dos 60 casos, 12 ocorreram até os 12 dias de vida, 30 até os seis meses de idade e 45 até o primeiro ano de vida. O grupo com mais causas morte é o VII (causas morte mal definidas), com destaque para a moléstia interna. No grupo que identificamos por “acidentes, lesões e outras violências” (Grupo V) verificamos algumas diferenças entre os sexos e as incidências de causa morte. Os ferimentos por arma branca ou por arma de fogo, os assassinatos, os desastres e outras situações violentas somente fizeram vítimas entre o sexo masculino, enquanto as queimaduras fizeram vítimas entre o sexo feminino. Isso leva a perceber os riscos ocupacionais de homens e mulheres o que pode refletir certos ofícios desempenhados por esta população. O trabalho escravo era importante na região de fronteira. Os escravos do sexo masculino podiam trabalhar em todas as atividades da produção agrária. Entre as mulheres, além de ofícios semelhantes aos dos homens, como a de roceiras, também desempenhavam os serviços domésticos, cuidavam das esposas de seus senhores nos partos e da família nas suas enfermidades, e ajudavam a cuidar dos filhos das mesmas (FARINATTI, 2007).
Entre os óbitos encontramos 22 ocorrências (26,2% do total de assentos) no grupo “Doenças Infecciosas e Parasitárias”. Desses, 9 assentos são referentes a varíola que era também denominada na época de bexiga e é uma das causas morte com maior incidência, 10,7% do total. Segundo Amantino (2007), o contágio desta doença se dava de forma direta (suor ou espirro) ou pelo contato com as secreções de um doente que poderiam contagiar outra pessoa que não estivesse imunizada ou pela vacina ou por já ter tido a moléstia. Doença esta que acometia em todo o Brasil e representava um grave problema de saúde pública para as autoridades brasileiras. As formas de contágio dessa doença são facilitadas em regiões que possuem determinadas características, como umidade ou insalubridade, propícias ao desenvolvimento desta e de outras enfermidades.
Importante observar que percebemos que os escravos do sexo masculino tiveram mais ocorrências de morte que o feminino. O trabalho de Luiz Augusto Farinatti traz alguns dados retirados dos censos e que são importantes para este estudo. Para o período de 1831 à 1850, ele constatou que a relação entre os sexos mostrava um desequilibro entre os escravos: 177 homens para cada 100 mulheres escravas. Essa alta taxa de masculinidade se deve também pela necessidade da mão-de-obra para as atividades econômicas do período, ainda que houvesse presença de mulheres e crianças, o que acentua a importância da escravidão, principalmente na produção pecuária.(FARINATTI, 2007, p. 242-243).
As mortes masculinas predominaram sobre as femininas nos Grupos: I, II, III e V.
Os escravos do sexo feminino tiveram maior incidência de óbitos nos Grupos IV e VIII, e equipararam-se ao sexo masculino, no grupo VII. O Grupo cinco, causas mortes classificadas por “acidentes, lesões e outras violências”, mostram-nos algumas diferenças entre os sexos, e as incidências de causa morte. Os ferimentos por arma branca ou por arma de fogo, os assassinatos, os desastres e outras situações violentas somente fizeram vítimas entre o sexo masculino, enquanto as queimaduras fizeram vítimas entre o sexo feminino. Isso leva a perceber os riscos ocupacionais de homens e mulheres o que pode refletir certos ofícios desempenhados por esta população.
O estudo dos inventários, em que os senhores declaravam os escravos e sua função. Nos inventários analisados por Farinatti (2007), foram encontradas poucas referências aos ofícios desempenhados pelas mulheres escravas, o destaque é referente ao trabalho doméstico. Segundo ele, é provável que as escravas fossem também roceiras nas pequenas propriedades, mesmo que não tenham sido encontrados dados referentes a esta ocupação. Entre os homens foram encontrados 53% de escravos com ofícios declarados nos inventários, entre eles o principal era o de campeiro, seguido pelo de roceiros. É provável que a maioria exercesse atividades agrícolas dentro das estâncias, pois os inventários apresentavam instrumentos agrícolas, já que os escravos eram empregados tanto na agricultura quanto no costeio do gado e serviços domésticos. (FARINATTI, 2007, p. 245-249) Por fim, ressaltamos a validade de uma metodologia baseada no estudo demográfico quantitativo, mesmo estando ciente de suas limitações. Este tipo de abordagem nos mostra apenas uma parcela da realidade vivenciada pelos escravos, porém nos traz considerações pertinentes ao aprofundamento da pesquisa quando relacionada a trabalhos qualitativos. Podemos usar essas informações como indicadores, ainda que iniciais, das condições da vida cativa em Alegrete neste período.
RODRIGUES, 2005, op. cit. p.303 O cemitério só foi fechado na ocasião do fim do tráfico em 1831. 21 PEREIRA, op. cit. 2007. Para maiores detalhes, ver PEREIRA, 2007, especialmente o ponto 2.3 “Cemitério e moradores do entorno: mobilização e propostas para o fim do cemitério do Valongo”, p. 77-97. 22 CARVALHO, José Murilo. “Prefácio”. PEREIRA, Júlio César Medeiros da Silva. À flor da terra: o cemitério dos pretos novos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Garamond: IPHAN, 2007, p. 12. 23 SCHULTZ, Kirsten. “A crise do império e a questão da escravidão. Portugal e Brasil, c. 1700 – c.1820”. In: Acervo. Rio de Janeiro, v. 21, nº1, p. 63-82, jan/jun2008. 24 Sobre escravidão urbana e escravo de ganho ver SILVA, Marilene Rosa Nogueira da. Negro na rua: a nova face da escravidão. São Paulo: Editora Hucitec, 1998. 25 CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade. Uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São Paulo: Companhia das letras, 1990.
Analisando as evidencias
Os ossos dos escravos estavam deixados sem nenhuma organização espacial, torcidos, queimados em diferentes graus de exposição ao fogo (cremados, carbonizados e calcinados), quebrados, lascados, soltos ao solo sem nenhuma conexão anatômica. Aqui, arcadas dentárias em meio a ossos longos; ali, ossos curtos com o indício de terem sido quebrados após a descarnação; mais adiante, fragmentos de crânios em meio a artefatos variados. Tudo isto à mostra em um espaço revelando todo contexto descrito pelo Intendente de Polícia João Ignácio da Cunha “ [...] a terra do campo revolvida e juncada de ossos mal queimados.” Citado ao longo deste artigo. O paradoxo deste achado, corroborado pelas pesquisas empreendidas, consiste no fato de que foi justamente a violência simbólica cometida contra os africanos escravizados, mortos e descartados como lixo no Cemitério dos Pretos Novos, ser agora a fonte mais reveladora sobre a forma e as condições de vida e morte que os nossos antepassados foram submetidos no Brasil. Ele é a prova inconteste de que o ser humano é capaz de tratar de forma atroz o seu semelhante pelo simples fato de lhe negar a condição primordial do ser que é o da humanidade. Entrementes, é impossível caminhar na Zona Portuária sem tropeçar em um fragmento de osso torcido que, ao germinar da terra onde um dia foi lançado, insiste em revelar o incomodo passado que nenhuma reforma urbana jamais poderá ocultar.
Todo o processo mercantil girava ao redor da figura do adiantamento das mercadorias: os comerciantes angolanos adiantavam fazendas, aguardente, tabaco, armas e pólvora aos sertanejos, que com elas se dirigiam ao interior para a troca por escravos. Antes, porém, em consignação, eles recebiam as mercadorias dos capitães dos negreiros, endividando-se frente ao capital traficante do Rio de Janeiro. A partir daí, suas dívidas para com as autoridades da Coroa, para com os arrematadores de contrato de escravos ou para com os fornecedores privados eram pagas em letras passadas e quitadas pelos negociantes do Rio de Janeiro. Por isso é que, segundo o Autor Anônimo, durante a segunda metade do século XVIII as letras cariocas chegaram a circular como numerário em Benguela. Obter altos lucros era a ilusão que movia os traficantes. Já na África, porém, a empreitada negreira perdia muitos escravos. A Memória a respeito dos escravos e tráfico da escravatura entre a costa d’África e o Brasil, apresentada por Oliveira Mendes à Real Academia de Ciências de Lisboa, em 1793, estimava que por então perdia-se de 30% a 50% dos escravos no longo trajeto entre as zonas de captura no interior de Angola e o porto de Luanda. No outro extremo do continente, de acordo com dados elaborados pelo Frei Bartolomeu dos Mártires para o ano de 1819, quase 20% dos escravos que partiam de Moçambique para o Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco pereciam entre a sua compra e o seu embarque em portos moçambicanos – cálculo referente basicamente ao tempo de espera para o preenchimento para a lotação de cada navio.
O funcionamento do Cais do Valongo foi o período de maior entrada no Brasil de africanos destinados a escravização e teve seu ápice comercial na década de 1820. Esse comércio gerou avanços na tecnologia de navegação uma vez que eram necessários métodos cada vez mais seguros para o transporte de uma “mercadoria”, viva, entre um continente e outro. O local do embarque e desembarque deveriam ser seguros e de fácil condução dos escravizados.
Cais do Valongo – Rio de Janeiro - (RJ)
Em 1774, o Vice-Rei Marquês do Lavradio determinou que passasse a ficar “fora dos limites da cidade” do Rio de Janeiro o comércio de africanos. O novo local escolhido para esse comércio foi o Valongo, entre a Pedra do Sal e a Gamboa. A ideia, com propósito de não contaminar a cidade, era isolar os recém-chegados que ali esperariam a venda para depois saírem diretamente pelo mar, através do Cais do Valongo e outros trapiches próximos. Estima-se que passaram pela região quase 1 milhão de africanos. A partir de 1831, com a proibição do tráfico de africanos pelo Governo Imperial, a entrada de escravos pelo Valongo diminuiu significativamente e os comerciantes tiveram que buscar maior discrição nos negócios de africanos. Procuraram locais mais seguros para o tráfico, em geral, em praias s isoladas, mas não muito distantes dos pólos dinâmicos da economia brasileira, como as regiões cafeeiras do sudeste, que requisitavam mão de obra escrava africana.
Junta do Comércio, Arquivo Nacional, caixa 377, pacote 1. AUTOR ANÔNIMO. Op. cit. 37 MENDES, Luiz Antonio de Oliveira. Memória a respeito dos escravos e tráfico da escravatura entre a costa d’África e o Brazil apresentada à Real Academia de Ciências de Lisboa em 1793.Porto, Escorpião, 1977, p. 48. Cf. CAPELA. O tráfico de escravos nos portos de Moçambique, 1733-1904, p. 260-261.
Inventário dos Lugares de Memória do Tráfico Atlântico de Escravos e da História dos Africanos Escravizados no Brasil
Américas, respeitamos a diversidade de expressões utilizadas pelos especialistas consultados, refletindo diferentes cronologias, abordagens historiográficas e usos regionais.
Se, de início, foi uma tarefa difícil a separação entre africanos e afrodescendentes, o esforço foi recompensado. O leitor também ficará impressionado com as dimensões das ações dos africanos escravizados no Brasil. Para melhor compreensão e maior visibilidade dos Lugares de Memória do Tráfico Atlântico de Escravos e da História dos Africanos, organizamos os 100 Lugares em 7 diferentes temáticas, apresentadas a seguir:
1. Portos de chegada, locais de quarentena e venda
2. Desembarque ilegal
3. Casas, Terreiros e Candomblés
4. Igrejas e Irmandades
5. Trabalho e Cotidiano
6. Revoltas e Quilombos
7. Patrimônio Imaterial
Inventário dos Lugares de Memória do Tráfico Atlântico de Escravos e da História dos Africanos Escravizados no Brasil
Portos de chegada, locais de quarentena e venda
1. Cafua das Mercês (São Luís – MA)
2. Rua do Bom Jesus (Recife – PE)
3. Cais da Cidade Baixa (Salvador - BA)
4. Porto de São Mateus (São Mateus - ES)
5. Complexo do Valongo - Cais do Valongo (Rio de Janeiro – RJ)
6. Complexo do Valongo – Cemitério dos Pretos Novos (Rio de Janeiro – RJ)
7. Complexo do Valongo – Mercado do Valongo – (Rio de Janeiro – RJ)
8. Ilha do Bom Jesus (Ilha do Fundão/Rio de Janeiro - RJ)
9. Porto Jaguarão (Jaguarão - RS)
Desembarque ilegal
1. Barra da Catuama (Goiana - PE)
2. Ilha de Itamaracá (Itamaracá - PE)
3. Praia de Porto de Galinhas (Ipojuca - PE)
4. Baía de Camanu (Camamu – BA)
5. Ilha de Itaparica (Pontinha/Vera Cruz – BA)
6. Praias de Manguinhos e Buena (São Francisco de Itabapoana – RJ)
7. Praias José Gonçalves e Rasa (Búzios - RJ)
8. Catedral do Santíssimo (Campos dos Goytacazes– RJ)
9. Ilha da Marambaia (Mangaratiba – RJ)
10. Bracuí (Angra dos Reis - RJ)
11. Sítio Arqueológico São Francisco (São Sebastião- SP)
12. Ilha do Bom Abrigo (Cananéia – SP)
13. Fortaleza da Ilha do Mel (Paranaguá – PR)
14. Ilha Campeche e Armação da Lagoinha (Florianópolis – SC)
15. Praia do Barco (Capão da Canoa – RS)
Casas, Terreiros e Candomblés
1. Casa das Minas (São Luís - MA)
2. Terreiro do Pai Adão (Recife – PE)
3. Casa de Tio Herculano (Laranjeiras - SE)
4. Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho-Ilê Axé Iyá Nassô Oká(Salvador - BA)
5. Terreiro do Alaketu - Ilê Maroiá Laji (Salvador – BA)
6. Terreiro do Gantois - Ilê Iyá Omi Axé Iyamassê (Salvador – BA)
7. Terreiro do Bogum - Zoogodô Bogum Malê Hundó (Salvador – BA)
8. Roça do Ventura - Zoogodô Bogum Malê Seja Hundé (Cachoeira – BA)
9. Candomblé do Capivari (São Félix – BA)
10. Ilê Axé Opô Afonjá (Rio de Janeiro e Salvador/ RJ e BA)
11. Pedra do Sal (Rio de Janeiro - RJ)
Inventário dos Lugares de Memória do Tráfico Atlântico de Escravos e da História dos Africanos Escravizados no Brasil
Igrejas e Irmandades
1. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (Olinda – PE)
2. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (Recife - PE)
3. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Igarassu (Igarassu – PE)
4. Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Lagarto (Lagarto - SE)
5. Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Laranjeiras (Laranjeiras – SE)
6. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (São Cristóvão- SE)
7. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Pelourinho (Salvador - BA)
8. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Rua João Pereira (Salv. - BA)
9. Igreja de N. Sra. do Rosário dos Homens Pretos de Cachoeira (Cachoeira - BA)
10. Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Santo Amaro (Santo Amaro - BA)
11. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Diamantina (Diam. - MG)
12. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Mariana (Mariana - MG)
13. Igreja de Nossa Senhora do Rosário de S. João Del Rei (S. J. D Rei - MG)
14. Igreja de Sta Efigênia ou de N. Senhora do Rosário do Alto da Cruz (Ouro Preto - MG)
15. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Santa Luzia (Luziânia – GO)
16. Igreja de Santo Elesbão e Santa Efigênia (Rio de Janeiro - RJ)
17. Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito (Rio de Janeiro - RJ)
18. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Taubaté (Taubaté – SP)
19. Igreja de Nossa Sra do Rosário dos Homens Pretos de São Paulo (São Paulo – SP)
20. Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito (Florianópolis – SC)
Trabalho e Cotidiano
1. Praça do Pelourinho de Alcântara (Alcântara - MA)
2. Beco de Catarina Mina (São Luís – MA)
3. Árvore Baobá (Nísia Floresta – RN)
4. Mercado da Praia da Preguiça (Salvador – BA)
5. Ruínas das Senzalas do Engenho Freguesia (Candeias - BA)
6. Ruínas do Engenho Vitória (Cachoeira - BA)
7. Mina de Ouro do Chico Rei - Encardideira (Ouro Preto - MG)
8. Sítio Arqueológico do Morro de Santana (Mariana- MG)
9. Senzala da Fazenda Santa Clara (Santa Rita de Jacutinga - MG)
10. Chapada dos negros (Arraias – TO)
11. Caminho do Ouro - Estrada Real (Paraty –RJ)
12. Fazenda dos Beneditinos (Duque de Caxias - RJ)
13. Fazenda Lordelo (Sapucaia - RJ)
14. Fazenda e Senzala Machadinha (Quissamã - RJ)
15. Casa de Zungu – (Rio de Janeiro – RJ)
16. Estrada Velha São Paulo – Santos (SP)
17. Floresta Nacional de Ipanema (Real Fábrica de Ferro) (Iperó – SP)
18. Praça da Liberdade (São Paulo – SP)
19. Comunidade Quilombola Guajuvira (Curiúva – PR)
20. Invernada Paiol de Telha (Guarapuava - PR)
21. Porto de Desterro e Mercado Público (Florianópolis – SC)
22. Capela de Sant‟Anna (Florianópolis – SC)
23. Fazenda da Tapera da Barra do Sul (Florianópolis – SC) 24. Sítio das Charqueadas (Pelotas - RS)
Seguro de vida - Embora companhias de seguro se tenham estabelecido no Brasil a partir de 1808, foi somente depois de meados do século que surgiram companhias de seguro no Rio de Janeiro cujo objetivo era assegurar a vida de escravos. De 1845 até 1888, houve pelo menos uma e no máximo quatro companias de seguro contra a mortalidade de escravos em funcionamento. Como em todos os negócios em que os riscos podem ser avaliados a partir de técnicas atuariais, a idade do segurado é variável fundamental para estimar sua mortalidade e, portanto, o risco do contrato para a seguradora. As tabelas dos prêmios cobrados – como percentuais sobre o preço do escravo – são interessantes registros da expectativa que tinham os diretores dessas empresas sobre a mortalidade de escravos. Neste texto, analisamos estes prêmios e as condições gerais de cada seguro, em comparação com curvas de mortalidade estimadas por Giorgio Mortara (1941) e Eduardo Arriaga (1976), para toda a população brasileira, e Robert Slenes (1976) e Pedro Mello (1977; 1983), para escravos. Percebemos descompasso entre as expectativas das seguradoras e das tábuas de mortalidade na faixa de idade infantil e, em menor grau, nos velhos. Isto tanto pode significar que as tábuas analisadas foram otimistas em demasia com relação à mortalidade das crianças ou que a companhias encontraram, neste descompasso, uma brecha pouco visível para lucro. Pouco podemos inferir sobre a estratégia empresarial dessas companhias, pois as condições extra prêmio eram importantes: inspeção médica do segurado, limites mínimos e máximos de idade, exceções variadas à causa mortis segurável (entre elas maus tratos ou morte enquanto fugido) e, principalmente, contratação por curta duração (normalmente somente por um ano).
Expectativa de vida e mortalidade de escravos - Para o registro dos óbitos as regras não eram tão rigorosas e iguais. Bastava registrar a data do falecimento, o nome do morto, seu estado civil. No caso de solteiros, dever-se-ia nomear os pais, ou o fato de ter sido exposto ou ser ilegítimo. No caso dos casados e dos viúvos(as), além desses dados, era necessário indicar o nome do esposo(a). Em muitas paróquias assinalava-se a naturalidade do morto, sua idade, e atividade que exerceu. Em alguns casos indicava-se a causa da morte e se o morto havia deixado testamento. As condições do enterramento vinham por vezes mencionadas: tipo e cor da mortalha ou do caixão (século XIX) e local do enterramento. Estes dados eram, porém, mais raros.
Sepultamentos de escravos ladinos:
Para o historiador Robert Slenes (1995), a cultura banto foi importante pela grande recepção durante a vigência do tráfico negreiro um contingente expressivo de africanos oriundos de regiões que compartilhavam os mesmos traços culturais, do Rio de Janeiro. Como chegavam muitas vezes mortos ou não sobreviviam, haviam escritos sobre os sepultamentos dos escravos ladinos, como relata Robert Slenes e alguns artigos, citados na sua tese de mestrado e disponibilizados no Scielo, como o artigo de CAPELA, José. “O tráfico de escravos nas relações Moçambique-Brasil” e na tese UNIPALMARES, com outro título, no site e-publicações da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, e no Google Acadêmico, totalizando quinze obras acessíveis para serem analisadas. Além das obras analisadas e computadas como dados para enfoque da pesquisas (como analisar aspectos comuns perante o trato e alimentação dos escravizados, doenças e como afetou a sobrevida e demais obras e autores foram utilizados para dialogo e embasamento teórico).
Fim do tráfico? Ora como é só este comércio que sustenta na sua maior parte as transações da Alta Zambézia, a promulgação desta lei acaba e um grande número de negociantes terá de buscar outro ramo para auferirem melhores lucros (Cf. CAPELA, 1998, p. 275). No Arquivo Nacional, as Séries Guerra e Relações Exteriores, e principalmente o fundo Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, apresentam vasto material para pesquisa relacionada às atividades de repressão ao tráfico negreiro, mormente aos conflitos e mediações envolvendo apresamentos de navios negreiros. Há muitos relatos de processos para julgar se uma nau era ou não “boa presa,” de perseguições ilegais por navios ingleses em águas brasileiras, de condenação e leilão de embarcações que traficavam fora dos limites do tratado, além de correspondência oficial que expõe as dúvidas e orientações comuns aos agentes da coroa portuguesa em relação ao tema. Além da documentação, também disponível para consulta encontra-se a publicação comentada das listas de escravos emancipados vindos a bordo de navios negreiros
Como qualquer outro recorte histórico é sempre bom lembrar que a ilegalidade do tráfico em si não caracteriza necessária e exclusivamente esse período em concreto. No mais, o descumprimento das leis estatais portuguesas que pretendiam gerir essa atividade na costa oriental africana foi, desde muito cedo, praticado por aventureiros e comerciantes portugueses e, como não poderia deixar de ser nesse caso, por funcionários públicos que buscavam assim tirar proveito da situação para se enriquecerem. Essa atitude não era para nada marginal, a ponto de os próprios governadores e outros altos cargos portugueses a praticarem como algo absolutamente necessário ao "bom desenvolvimento do comércio local". No mais, a "ilegalidade", nesse caso, é um discurso jurídico absolutamente eurocêntrico ao não levar em conta as decisões e o entendimento dos africanos. Ao contrário da costa ocidental, o tráfico no Índico, ainda que mais antigo, só ganhou as mesmas proporções bem depois de já haver sido estabelecido um comércio regular e de grandes proporções no Atlântico.
Moçambique sofreu diretamente as consequências das políticas abolicionistas a partir do fim do século XVIII, mas diferente do que se podia esperar, o tráfico conheceu na África Oriental um importante aumento a partir daí. Ao menos em Moçambique, ainda que em menor intensidade, o tráfico permaneceu até o início da colonização portuguesa no fim do século XIX, quando sistemas análogos à escravidão foram criados para dar continuidade à exploração da força de trabalho dos africanos. Definitivamente chegava ao fim uma das atividades comerciais mais importantes para o desenvolvimento do mercantilismo e, por conseguinte, do capitalismo.
No que diz respeito a Moçambique podemos dizer que o chamado tráfico ilícito começou no dia 10 de dezembro de 1836, quando Sá da Bandeira declarou oficialmente extinto o tráfico de escravos em todas as possessões portuguesas. Entre as leis aprovadas em Lisboa e a sua aplicação real nos enclaves portugueses da África Oriental, a distância parecia imensurável. O marquês de Aracaty, Carlos Augusto de Oyenhausen e Gravenburg, governador-geral (1836-1837) e responsável primeiro pelo cumprimento do decreto, não somente suspendeu a sua execução como chegou mesmo a regulamentá-lo. Quatro anos mais tarde, outro governador geral, Pereira Marinho (1840-1841), que finalmente tentou aplicar a lei, foi exonerado e substituído por um importante negreiro, João da Costa Xavier (1841-1843), no ano seguinte à sua posse. Somente dezesseis anos depois da exoneração de Pereira Marinho, assumiria como governador-geral de Moçambique um antiescravista convicto: João Tavares de Almeida (1857-1864).
Depois de estar operando ativamente durante toda a década de 1840 com barcos brasileiros e estadunidenses, o tráfico de escravos em Moçambique, que cruzava o Atlântico, começou a conhecer definitivamente o seu fim com a chegada da segunda metade do século XIX. Os brasileiros encerraram praticamente o tráfico na década de 1850? ( a aprovação da Lei Eusébio de Queirós, em setembro de 1850), enquanto Cuba e os Estados Unidos continuaram a importar grandes contingentes de escravos por mais uma década (NEWITT, 1995, p. 249). Uma vez esgotado o tráfico no Atlântico, o Índico foi o palco dos últimos suspiros das exportações escravistas para além dos limites africanos ´é tão abruptamente com um comércio tão lucrativo? De fato, uma simples lei não seria capaz de eliminá-lo. A sua proibição exigira dos agora “traficantes” maiores habilidades para o desembarque e transporte dos africanos, agora escravizados ilegalmente. Segundo Marcus Carvalho, o desembarque desses ilegais não poderia ser feito em qualquer ponto da costa, sendo necessária a observação das condições de luminosidade e maré. O transporte também não poderia ocorrer de forma metódica uma vez que era preciso evitar o aprisionamento da “carga”. Ao relatar as novas condições do comércio, agora tráfico, o autor é taxativo: “o tráfico ilegal não era negócio para amadores”.
As formas de driblar a vigilância e as leis eram várias, desde uma interpretação um tanto mais maleável de certos termos e definições, passando por editais que abriam exceções à regra que no final das contas acabavam permitindo a perpetuação do comércio como antes transcorria, e chegando à conivência aberta de autoridades portuguesas e depois, brasileiras, no acobertamento de importação ilegal de escravos
As condições que os africanos chegavam eram as piores possíveis, podendo passar dias na costa esperando um momento ideal para serem desembarcados. Segundo Carvalho, um traficante relatou ao parlamento inglês que depois de semanas de fome e sede, os cativos tinham que ser carregados para fora do navio devido as suas péssimas condições físicas. Diante de tamanho desgaste, esse africano recém-chegado necessitava de um tempo para se recuperar e aprender o idioma português.35 Nesse caso, um exemplo de como o uso da língua portuguesa por parte do escravo recém-chegado era útil para burlar a lei de 1831 foi relatado por Sidney Chalhoub. Segundo o autor, havia um índice de evolução do domínio do idioma que era usado por autoridades para confirmar se o africano era escravizado ilegalmente e isso poderia determinar a continuidade ou não da sua escravização.
O trabalho desses dois autores não é suficiente para compreendermos as mazelas sofridas por esses africanos escravizados ilegalmente. No entanto, dificilmente teremos relatos mais precisos a respeito do cotidiano do tráfico de escravos e as regiões envolvidas nessa dinâmica. A história nos brinda constantemente com uma série de ironias e contradições e, no caso das campanhas abolicionistas, não poderia ser diferente. Isso porque, malgrado todo o movimento desencadeado principalmente pelos humanistas. Ao chegar ao porto de Cabo Verde, o navio negreiro “Progresso”, trouxe consigo um incrível número de morto: 175 em um total 397.
Segundo Eltis e Richardson (2003) a média de embarcados era de 229 escravos por navio, assim podemos ter uma ideia sobre a grande lotação do “Progresso”, qual esteve também relacionada ao número de mortos. Os sobreviventes desta viagem foram introduzidos em fazendas, por um prazo de seis meses, como aprendizes, sendo que seus serviços poderiam ser requisitados pelo prazo de um ano sem salário. Depois passariam a ser beneficiados com um salário, conforme a função, mas não seriam devolvidos à sua terra natal. Quanto ao trato com os traficantes, o autor relata a impunidade, foram soltos e retomaram suas atividades normais. No livro de Hill há uma forte critica a impunidade que vigorava em Cabo Verde quanto ao tráfico. Na última parte do livro o autor faz uma previsão que, mesmo com o fim da escravidão, seus efeitos se manteriam, o que se confirmou.
Dominados e submetidos
Mais tarde, na tentativa de apagar as memórias da história do Valongo, por onde passaram incontáveis africanos escravizados, o nome foi modificado para Cais da Imperatriz, em homenagem à futura imperatriz Teresa Cristina de Bourbon (1822-1889), que chegou ao Brasil em 1843, para o casamento com D. Pedro II (1825-1891).
O texto que abre esta apresentação é retirado de A Marmota Fluminense – “jornal de moda e variedades” dirigida por Paula Brito, que circulou no Rio de Janeiro, entre 1854 e 1858. Nos anos da epidemia de cólera, muitos dos artigos e crônicas deste periódico focaram a epidemia reinante que assolou a cidade em 1855. Alguns anúncios traziam ofertas de cura, outros artigos eram uma crítica ao modo como a administração da câmara municipal cuidava do problema. Outros textos ainda, como as cartas dos leitores, eram apelos às divindades para serem poupados de um dos maiores flagelos daquele século.
O texto acima, não assinado, tinha por intenção provocar risos entre os que comungavam da mentalidade escravista predominante, reafirmando o que as autoridades médicas já diziam: que a cólera matava principalmente os escravos. Diferentemente do que teria acontecido com o caso da febre amarela, em 1849, que, segundo os relatórios médicos do período, mataram em boa parte brancos e europeus não-aclimatados, a cólera atingiu em maior parte a população pobre e escrava.
Ora com é só este comercio que sustenta na sua maior parte as transações da Alta Zambéz a promulgação da lei acaba com um grande número de negociantes que terá que buscar outro ramo para conseguirem melhor lucros (cf CAPELA 1009,p275
As determinantes das doenças de escravos
Determinaram agravos à saúde na população afrodescendente, doenças que acometiam a uma determinada população. Cabe ao profissional engajado na assistência à saúde cumprir sua parte no diagnóstico oportuno e correto da situação, na condução dos casos, de modo a gerar um tratamento tecnicamente adequado e socialmente humanizado. Cabe ao Estado, à sociedade civil e a grupos organizados da mesma, agir sobre os determinantes e processos de mediação envolvidos na ocorrência de tais agravos, prevenindo-os e promovendo a saúde integral desse importante segmento da população brasileira de 1855 e 1856, cujo diferencial se mostrou maior para a população escrava, como já indicavam os médicos do período.
Aquela foi à primeira aparição epidêmica da doença registrada na cidade, e também foi a mais devastadora. Entre agosto de 1855 a março de 1856, mais de 11.000 pessoas morreram na cidade e seus arredores, segundo consta nos relatórios da época. Sua eclosão se deu no contexto da terceira pandemia mundial da doença (1839-1861), cuja primeira identificação no Ocidente data de 1817, a partir do contágio de soldados ingleses na Índia. Doença que continua afetando países pobres de diferentes partes do continente africano, o cólera-morbus pode ser considerado fruto das transformações mundiais como mercado sistêmico e da hegemonia britânica (Echenberg, 2011). Originária do delta do Ganges, a cólera se alastrou pela Europa durante a segunda pandemia, entre 1828 e 1832, cruzando o Atlântico e alcançando a América do Norte, México e Caribe. Em diferentes partes do mundo ocidental, a cólera se tornou um marco trágico e transitivo do período em que a saúde pública e a ciência médica encontravam a urbanização e a revolução dos meios de transporte (Rosenberg, 1962).
A porta de chegada da epidemia ao Império do Brasil é registrada primeiramente na cidade de Belém em maio de 1855, quando imigrantes portugueses aportavam de uma embarcação que viera do Porto. Diversos casos se alastraram a partir de Belém, totalizando 1009 mortes na cidade, e mais 5000 na província do Pará (Ribeiro, 1992). A partir deste foco, a cólera se espraiou ao cabo de poucos meses pelas províncias do Maranhão, Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Como diversos estudos anteriores apontam, a mortalidade foi catastrófica no Pará (Beltrão, 2002). Na Bahia, a epidemia, que durou até abril de 1856, levou a vida de cerca de 36.000 pessoas (David, 1996). A constatação de que na maior parte dos casos morriam os males assistidos era recorrente entre os higienistas, que associavam a doença e o ambiente social. Esta associação gerava também o estigma dos coléricos em diferentes cidades (Rosenberg, 1962). No caso brasileiro, ela recaiu sobre a condição dos homens de cor e escravos, como indica as palavras do médico José Pereira do Rego em relação aos atingidos o Rio de Janeiro pelo porto do valongo: Costumes considerados desregrados e vistos como próprios dos escravos e das classes pobres eram, para dirigentes como Cândido José de Araújo Vianna, a causa da alta mortalidade. O visconde de Sapucaí teria afirmado que o maior número de mortes observado nas segundas e terças-feiras, era devido “aos abusos e excessos praticados no domingo, sobretudo pela escravatura.” (A Marmota Fluminense, 30/11/1855). À época, Rego era um dos membros da Junta Central de Saúde Pública, comissão formada por médicos da Academia Imperial de Medicina, para atuar frente à situação epidêmica.
Certamente, apesar da “pilhéria” folhetinesca da Marmota – a epidemia não levou somente a vida dos mais pobres. É conhecida a história da filha do viajante inglês Thomas Ewbank, que morrera por causa dela. Esforços foram feitos por parte dos médicos e administradores para assistir a todos os doentes da cidade. O hospital de Santa Isabel atendeu especialmente os coléricos, e a visita de D. Pedro II ao local ficou imortalizada na pintura de Louis Auguste Moreau, “Dom Pedro II visitando os doentes de cólera morbus”.
A cólera foi responsável pela morte de 58,62% dos escravos africanos no período de julho de1855 a junho de 1856, enquanto que os escravos brasileiros faleceram muito mais de outras enfermidades, sendo a cólera a causa de 25,99% das mortes deste segmento. É interessante observar que a taxa dos escravos brasileiros não foi muito diferente da dos livres brasileiros, que ficou em 24,3%. É possível que as condições de vida dos nascidos no Brasil fossem mais próximas entre si do que a dos africanos, em particular os escravizados. Em outras palavras, os nativos da África tinham muito mais chances de morrer pela epidemia do que os nascidos no país. Os números parecem ainda mais gritantes quando observamos os dados brutos. Dos africanos escravizados, 1519 morreram de cólera, enquanto que ela levou a vida de 410 escravos nascidos no Brasil. É certo que africanos compunham a maioria dos escravos nos anos posteriores ao tráfico. Entre os nossos dados da Santa Casa, encontramos uma percentagem de 56% de africanos entre os escravos da cidade.
Dessa maneira, é provável que o tráfico transatlântico, extinto cinco anos antes, ainda deixasse suas marcas no perfil demográfico da população cativa. Dado que nos registros dos arquivos da Santa Casa da Misericórdia estão anotados, entre outras informações, os nomes da “nação” dos africanos, temos um quadro geral dos que foram enterrados no período.
Cabe lembrar que desde 1850, com a proibição dos enterramentos tradicionais nas igrejas, os registros de óbitos encontravam-se sob a guarda da Santa Casa, possibilitando a reunião de informações sobre os enterramentos que anteriormente estavam a cargo das irmandades religiosas. Talvez isso seja um fator que pese em algumas diferenças da composição de africanos sobretudo os da África Ocidental e da África Oriental encontrados nos registros do cemitério do Caju, quando comparados com estudos de Karasch (2000), por exemplo. Segundo Karasch, os africanos ocidentais compunham cerca de 6% da população africana no Rio de Janeiro por volta de 1849. Mesmo que os registros de morte não devam ser considerados como reflexo direto da demografia, chama a atenção a presença de cerca de 11% de africanos ocidentais encontrados entre os enterrados. Com o aumento da migração interna, principalmente da Bahia para a corte, a tendência era o crescimento da presença de minas e nagôs no Rio de Janeiro (Soares, 2011). No caso dos africanos orientais (Quelimane, Inhambane, Moçambique), a percentagem de 16% mostrou-se mais representativa, indicando sua presença conforme os dados de estudiosos (Alpers, 2005; Florentino, 2002; Karasch, 2000).
Se durante o período epidêmico foram registradas mais mortes por cólera de escravos e de libertos do que de livres, os padrões de mortalidade parecem não ter se comportado da mesma maneira para todos os escravos. Ao compararmos a taxa de mortalidade específica dos que foram mortos pela cólera, verificamos que a população escrava africana morreu em mais do que o dobro dos escravos brasileiros. Os crioulos na verdade tiveram praticamente a mesma taxa de mortalidade por cólera do que os outros brasileiros livres, girando em torno de 25%.
Algumas hipóteses devem ser ainda melhor estudadas para a compreensão destas taxas diferentes, o que está além das possibilidades desta breve apresentação, e ela certamente inclui a análise das condições de vida. Cabe lembrar que aos africanos cabiam os serviços mais propensos à infecção, em particular os de limpeza das ruas e de dejetos das casas, de carregamento de corpos e doentes. Acreditamos também que o estudo desse diferencial de mortalidade deve ser investigado junto a uma possível diferença na capacidade dos nascidos no Brasil de criarem redes de sociabilidade mais amplas do que os provenientes de outro continente. As redes de amparo mútuo possivelmente contribuíram para as maiores chances de muitos indivíduos de sobreviverem à crise epidêmica, dado que se conhece que a cólera afeta principalmente os organismos dos já debilitados (Kiple, 1985). De forma talvez semelhante ao meio rural (Engemann, 2008:130), nas cidades, a existência de “comunidades” poderia auxiliar na proteção de seus membros contra diferentes problemas físicos, que iam desde o acesso à alimentação e vestuário até os cuidados no caso de convalescença. Mesmo em se tratando de uma epidemia, as diferenças nas taxas de mortalidade levam a crer que havia condições de vida diferentes. Dados numéricos duros quem sabe podem auxiliar no melhor conhecimento dos modos de vida dos africanos na urbe imperial.
Ainda assim, é possível avançar na compreensão do impacto da chegada da cólera a causa da mortalidade dos registros de óbitos arquivados na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Havíamos verificado em estudo anterior (Kodama; Pimenta; Bastos; Bellido, 2012) como os escravos foram as principais vítimas da epidemia, diferenciando-a provavelmente da epidemia de febre amarela que ocorrera em 1849, cujas principais vítimas teriam sido imigrantes europeus e não aclimatados. Ao analisarmos os registros de óbito, verificamos que escravos e libertos foram mais atingidos pelo flagelo do que os livres. Essas categorias – não obstante a variedade de situações dos indivíduos em si – são indicativas de possíveis diferenças das condições sociais e de modos de vida, resultando assim em um diferencial de mortalidade dos escravos e libertos em relação aos livres. Ainda que nem todos os livres necessariamente figurem em situações de vida diferentes.
Conclusão: Como todos estes processos afeta hoje saúde destes brasileiros descendente de escravizados sequestrados?
Os estudos são precários com dados históricos, por ter sido deixado de lado, por se tratar apenas de mercadoria e não ter a devida atenção, mesmo hoje quando concentra-se no Brasil "a maior população negra (englobando pretos e pardos) fora da África e a segunda do mundo, superada apenas pela da Nigéria." Mais de 54% da população brasileira corresponde a afrodescendentes. Em geral, esta fração da população, do ponto de vista econômico e social, é mais pobres e menos instruída que o restante da população brasileira. Entre os afrodescendentes, apenas 2% recebem mais de dez salários mínimos mensais. Grande parte vive na periferia de centros urbanos, com moradias inadequadas, baixa cobertura de saneamento básico, proporção elevada de analfabetismo, pouca qualificação profissional e pouca perspectiva de ascensão social. É uma população marginalizada, discriminada socialmente e mais vulnerável à violência e a doenças. É possível, portanto, que, do ponto de vista das doenças com forte determinação genética, a população brasileira afrodescendente possa manifestá-las com características próprias, não sendo correta a simples transposição dos resultados do cruzamento das pesquisas sobre essas doenças realizadas em outros países.
Em função deste quadro, doenças ligadas à pobreza, como desnutrição, verminoses, gastroenterites, tuberculose e outras infecções, alcoolismo, etc. são mais incidentes na população negra, e não por razões étnicas. O acesso a serviços de saúde é mais difícil e o uso de meios diagnósticos e terapêuticos é mais precário, produzindo, em geral, evolução e prognóstico piores para as doenças que afetam negros no Brasil.
Existe, portanto, a necessidade de se aferir objetivamente as condições de saúde da população afro-brasileira e, neste sentido, os estudos que devem proporcionar evidência causal são escassos ou inapropriados. Os estudos epidemiológicos existentes ainda se limitam, em grande parte, a séries de casos clínicos descritas no âmbito hospitalar, não conseguindo conferir poder de generalização. Contudo, eles apontam para fatores de risco e condições específicas que devem ser melhor investigadas. Conforme ficou evidente na revisão bibliográfica realizada por Urdaneta e Laguardia (1999) durante o processo de produção deste manual, há poucos dados sólidos sobre a causalidade dos agravos que aparentemente afetam de maneira preferencial população brasileira de origem africana.
A ausência de registro e/ou a insuficiência de quaisquer critérios de classificação sobre "raça" ou etnia permeiam a relativa falta de conhecimentos sobre tais aspectos no nível da população. A importância política do saber sobre as condições de saúde desse importante segmento da população está condicionada à existência de informações e à forma como as mesmas são registradas e/ou coletadas. Segundo o documento elaborado pelo Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra, denominado "A Saúde da População Negra – realizações e perspectivas" , a partir de 1998 este aspecto foi parcialmente sanado pela inclusão, nos formulários oficiais – nacionalmente padronizados – de Declaração de Nascidos Vivos e de Declaração de Óbitos, do quesito raça / cor (amarela, branca, indígena, parda e preta). As informações sobre mortalidade poderão contribuir para melhorar o conhecimento do problema e a definição de políticas de prevenção de mortalidade em função da etnia. A construção desta política é resultado da luta histórica pela democratização da saúde encampada pelos movimentos sociais, em especial pelo movimento negro. É, outrossim, fruto da pactuação de compromissos entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a fim de superar situações de vulnerabilidade em saúde que atingem parte significativa da população brasileira. Seu propósito é garantir maior grau de eqüidade no que tange à efetivação do direito humano à saúde, em seus aspectos de promoção, prevenção, atenção, tratamento e recuperação de doenças e agravos transmissíveis e não-transmissíveis, incluindo aqueles de maior prevalência nesse segmento populacional. O desenvolvimento da sociedade colonial e o processo de objetificação dos milhões de negros escravizados, trazidos do continente africano nos porões dos navios negreiros, marcaram um período longo da história brasileira. A despeito das péssimas condições de vida e trabalho e das diversas formas de violência às quais foram submetidos, episódios de resistência e luta.
As primeiras inserções do tema Saúde da População Negra nas ações governamentais, no âmbito estadual e municipal, ocorreram na década de 1980 e foram formuladas por ativistas do Movimento Social Negro e pesquisadores.
Apenas na 8.ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, constituiu um marco na luta por condições dignas de saúde para a população, uma vez que fechou questão em torno da saúde como direito universal de cidadania e dever do Estado. Na conferência, o Movimento Social Negro participou ativamente, ao lado de outros movimentos, em especial o Movimento pela Reforma Sanitária, do processo de elaboração e aprovação das propostas. Como principal desdobramento da conferência e conquista fundamental dos movimentos sociais, a Assembleia Nacional Constituinte introduziu o sistema de seguridade social na Constituição Federal de 1988, do qual a saúde passou a fazer parte como direito universal, independentemente de cor, raça, religião, local de moradia e orientação sexual, a ser provido pelo SUS (BRASIL, 1988, art. 194).
Hoje embora a doença falciforme seja a mais conhecida entre as doenças genéticas predominantes entre negros, mas também algumas outras como diabetes mellitus, HIV/AIDS, tuberculose, hanseníase, câncer de próstatas, de colo uterino e de mama, miomas, transtornos mentais”, além da morbi-motalidade por doença falforme,que são as mais comuns também na lista de enfermidades que mais afetam a este público.
Na década de 1990, o governo federal passou a se ocupar do tema, em atenção às reivindicações da Marcha Zumbi dos Palmares, realizada em 20 de novembro de 1995, o que resultou na criação do Grupo de Trabalho Interministerial para Valorização da População Negra/ GTI e do Subgrupo Saúde. Em abril do ano seguinte, o GTI organizou a Mesa Redonda sobre Saúde da População Negra, cujos principais resultados foram:
a) a introdução do quesito cor nos sistemas de informação de mortalidade e de nascidos vivos;
b) a elaboração da Resolução 196/ 96, que introduziu, dentre outros, o recorte racial em toda e qualquer pesquisa envolvendo seres humanos; e
c) a recomendação de implantação de uma política nacional de atenção às pessoas com anemia falciforme.
O desenvolvimento da sociedade colonial e o processo de objetificação dos milhões de negros escravizados, trazidos do continente africano nos porões dos navios negreiros, marcaram um período longo da história brasileira. A despeito das péssimas condições de vida e trabalho e das diversas formas de violência às quais foram submetidos, episódios de resistência e luta foram as bases para a formação Apesar de um lado da história falar que a generosidade de uma princesa pôs fim ao período escravocrata, os negros afirmam que o fim desse regime foi dado pela luta dos escravos e pela resistência que já durava vários anos. (…) Assim como as outras leis já assinadas como a Lei do Ventre Livre (1871) e a Lei do Sexagenários (1884), a Lei Áurea também não garantiu o fim da escravidão, pois os ex-escravizados foram descartados, ficando sem emprego, sem terras, sem documentos e novamente obrigados a trabalhar em locais que pagavam pouco, porque era tudo o que lhes era oferecido. Outra opção era permanecer na casa de “seus” senhores para terem o que comer, pois a própria lei não tinha quaisquer dispositivos que garantissem oportunidades justas para os negros. Hoje mais de 131 anos após a ‘abolição’, há reflexos desse período. Na sequência da abolição, a mão de obra imigrante vai aumentando.
A abolição teve limites e não foi plena. Mas ela ocorreu, não foi farsa. Seria como dizer que a República foi uma farsa, que não acabou com a monarquia. A abolição acabou com a aberração gerada por um quadro institucional e legal que permitia uma pessoa ter como propriedade outra pessoa e seus descendentes, de maneira perpétua a lei áurea, de 13 de Maio de 1888, pois ainda, estamos presenciando as consequências do tráfico negreiro, presentes na identidade e saúde afro-brasileira.
Um afro abraço.
Claudia Menezes Vitalino.
Apoio acadêmico:
Dra. Angelita Nascimento- CONSEA- Conselho estadual de Segurança Alimentar
Dra. Carla Lima- FEMNEGRAS e Comissão estadual da verdade da Escravidão Negra do Brasil
Referências bibliográficas:
IMPÉRIO LUSO-BRASILEIRO Repressão ao Tráfico de Escravos
Pretos novos é a nomenclatura escravista designada para africanos escravizados recém-chegados, ou boçais, ou seja, que ainda não sabiam nem os costumes nem a língua, muito menos foram revendidos em solo brasileiro.
Rodrigues, Jaime. O tráfico de escravos e a experiência diplomática afro-lusobrasileira: transformações ante a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro. In Anos 90: Revista do programa de pós-graduação em história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2008.
Santos, Guilherme de Paula Costa. Convenção de 1817: debate político e diplomático sobre o tráfico de escravos durante o governo de d. João no Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
ABDALLAH, Yohanna. B. The Yaos (Chiikala cha Wayao). (Arranged, edited, and translated by Meredith Sanderson). Zomba: Government Printer, 1919 (2nd ed., London: Cass, 1973).
ADAMOWICZ, Leonardo. Projecto 'Cipriana', 1981-1985: Contribuição para o conhecimento da arqueologia entre os rios Lúrio e Ligonha, Província de Nampula. Trabalhos de Arqueologia e Antropologia. 3, 1987, p. 47-144.
ALBERTO, Manuel Simões. Os angonis - elementos para uma monografia. In: Memórias do Instituto de Investigação Científica de Moçambique. 9, série C, 1967/68, p. 47-93.
ALBERTO, Manuel Simões. Sinopse das línguas e dialectos falados pelos autóctones de Moçambique. Boletim do Instituto de Investigação Científica de Moçambique. 2/1, 1961, p. 51-68.
ALBERTO, Manuel Simões. Os negros de Moçambique: Censo etnográfico. Lourenço Marques, 1947 (AHM - Dactilografado).
ALPERS, Edward A. Flight to Freedom: Escape from Slavery among Bonded Africans in the Indian Ocean World, c. 1750-1962. Slavery and Abolition. 24, 2003, p. 51-68
ALPERS, Edward A. The African Diaspora in the Indian Ocean: a comparative perspective. In: Shihan de Silva Jayasuriya and Richard Pankhurst (eds.). The African Diaspora in the Indian Ocean. New Jersey: Africa World Press, 2003b, p. 19-50.
ALPERS, Edward A. Recollecting Africa: Diasporic memory in the Indian Ocean world. African Studies Review. 43, 2000, p. 83-99.
ALPERS, Edward A. The Impact of the Slave Trade on East Central Africa in the Nineteenth Century. In: Joseph E. Inikori, (ed.). Forced Migration: The Impact of the Export Slave Trade on African Societies. London: Hutchinson University Library for Africa, 1982, 242–273.
ALPERS, Edward A. Ivory and Slaves in East Central Africa: Changing Patterns of. Internal Trade to the Late Nineteenth Century. London: Heinemann, 1975.
ALPERS, Edward A. Introduction. In: ABDALLAH, Yohanna. B. The Yaos (Chiikala cha Wayao). (Arranged, edited, and translated by Meredith Sanderson). London: Cass, 1973, 2nd ed.
ALPERS, Edward A. The French Slave Trade in Eastern Africa, 1721-1810. Cahiers d’Études Africaines. 10, 1970, p. 80-124.
ARAÚJO, Achilles Ribeiro de 1982 Assistência médica hospitalar no Rio de Janeiro no século XIX. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura/MEC
BAKER, C. A. A note on the Nguru immigration to Nyasaland. The Nyasaland Journal (Blantyre). 14, 1961, p. 41-42.
BEACHEY, R. W. The Slave Trade of Eastern Africa. London: Rex Collings, 1976.
BEATON, Patrick. Creoles and Coolies; or, Five Years in Mauritius. Port Washington and London: Kennikat Press, 1971, 2nd ed. (1st ed. 1859).
BENOIT, Caetan. The Afro-Mauritius-Ar Essay. Paper presented at the International Seminar on Slavery in the South-west Indian Ocean, Mahatma Gandhi Institute, Maka-Mauritius, 26th February-2nd March 1985.
BOCARRO, Gaspar. Década 13 da História da Índia (R. J. Lima Felner, ed.). Lisboa: Tipografia da Academia Real das Ciências de Liasoa, 1876 (Parte 1).
CAPELA, José. O tráfico de escravos nos Portos de Moçambique (1733-1904). Porto: Edições Afrontamento, 2002 (1ª edição).
CAPELA, José. Donas, Senhores e Escravos. Porto: Edições Afrontamento, 1996.
CAPELA, José. O Escravismo colonial em Moçambique. Porto: Edições Afrontamento, 1993.
CAPELA, José. A Républica Militar da Maganja da Costa. Porto: Afrontamento, 1990.
CAPELA, José. O problema da escravatura nas colónias portuguesas. In: Luís de Albuquerque (org.) Portugal no Mundo. Lisboa: Publicações Alfa, 1989, vol. 6, p. 51-63.
CAPELA, José. O tráfico de escravos nas relações Moçambique-Brasil. História: Questões e Debates (Curitiba). 9, 1988, p. 187-192.
CAPELA, José. Mentalidade escravista em Moçambique, 1837-1900. Cadernos de História- Maputo. 2, 1985, p. 25-35.
CAPELA, José. As burguesias portuguesas e a abolição do tráfico da escravatura, 1810-1842. Porto: Edições Afrontamento, 1979 (1ª edição).
CAPELA, José; MEDEIROS, Eduardo. O tráfico de escravos para as Ilhas do ìndico, 1720-1902. Maputo: INLD / UEM, 1988.
CHAFULUMIRA, E. W. Mbiri ya Alomwe. Zomba, Education Department, 1949, 3 (27) 1956, p. 244-246.
CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão. Ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São Paulo: Companhia das letras, 2012, p. 35
CLARENCE-SMITH, William G. The Economics of the Indian Ocean Slave Trade in the Nineteenth Century. London: Frank Cass, 1989.
COUTINHO, João de Azevedo. Do Nyassa A Pemba (Os territórios da Companhia do Nyassa). Lisboa: Typographia da Companhia Nacional Editora, 1931.
DESMAROUX, Pe. Félix. Relatório da Missão dos Santos Anjos de Quelimane. In: HIMERIA, Bispo de. (org). Padroado de Portugal em África - Relatório da Prelazia de Moçambique. Lisboa: Imprensa Nacional, 1895, p. 114-116.
DUFFY, James. A Question of Slavery, Labour Policies in Portuguese Africa and the British Protest, 1850-1920. Oxford: Clarendon Press, 1967.
DURÃO, Portugal. Reconhecimento e ocupação dos territórios entre o Messangire e os picos Namuli. Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa. 20/7, 1902, p. 9 - 11.
FILLIOT, Jean-Michel. (Coord.) Histoire des Seychelles. Victoria: Ministére de l`Education et de l`Information, 1982.
FILLIOT, Jean-Michel. La traite vers l`Ile de France- Les contraintes maritimes. Paper presented at the International Seminar on Slavery in the South-west Indian Ocean, Mahatma Gandhi Institute, Maka-Mauritius, 26th February-2nd March 1985.
FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico de escravos entre África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
Ferreira, Luiz Otávio 1996 O nascimento de uma instituição científica: o periódico médico brasileiro da primeira metade do século XIX. Tese de doutorado. Dep. de História, FFLCH/USP,
FROBERVILLE, Eugène de. Notes sur les moeurs, coutumes et traditions des amakoua, sur le commerce et la traite des esclaves dans l'Afrique orientale. Bulletin de la Société de Géographie, 3e Série, 8, 1847, p. 311-329.
FROBERVILLE, Eugène de. Notes sur les Va-Ngindo, et tribus nègres bégayeurs au nord de la cafrerie. Bulletin de la Société de Géographie. 4e Série, 3, 1852, p. 425-443 e p. 517-519.
GEFFRAY, Christian. Nem pai nem mãe: crítica do parentesco: o caso macua. Lisboa: Ndjira, 2000.
GUEUNIER, Noél - Contes de lacôte ouest de Madagascar. Antananarivo et Paris: Karthala, s/d.
GUEUNIER, Noel. Documents sur la langue makhuwa à Madagascar et aux Comores (fin XIXe - début XXe siècles). Études Océan Indien. 35-36, 2003-2004, pp. 149-223.
GUEUNIER, Noél. Les poèmes de Maulidi Manganja: Poèmes swahili recueillis à Nosy-Bé. Bulletin des Études africaines de l'Inalco. 3/6, 1983, p. 7-76.
HAFKIN, Nancy J. Trade, Society and Politics in Northern Mozambique, 1753-1913. PhD dissertation, Boston University, 1973.
HARRIES, Lyndon. Makua song-riddlles from the iniciation rites. African Studies (Johannesburg). 1, 1942a, p. 27-46.
HARRIES, Lyndon. Some riddles of the Makua. African Studies (Johannesburg). 1, 1942b, p. 275-291.
HARRIES, Lyndon. Notes on the mythology of the Bantu in Ruvuma District. Tanganyika Notes and Records, 12, 1941, p. 38-44.
ISAACMAN, Allen; Barbara Isaacman, Slavery and Beyond: The Making of Men and Chikunda Ethnic Identities in the Unstable World of South-Central Africa, 1750-1920. Portsmouth: Heinemann, 2004.
ISAACMAN, Allen; ROSENTHAL, Anton. War, slaves and economy - the later nineteenth century chikunda expansion in South-Central Africa. Cultures et Développement. 16, 1984, p. 639-670.
IVALA, Adelino Zacarias. Transformações socio-políticas no Alto Lúrio - O caso do Regulado de Umpuhua, c.1850-1933: Contribuição para a pesquisa de História Local. Maputo, ISP, 1993, Trabalho de Diploma para a obtenção do grau académico de licenciatura em ensino de História e Geografia.
LEBOUILLE, Padre Leonardo A Etnia Macua em Moçambique. Pemba: 1974. (Policopiado). Agradecemos a autorização que o autor nos deu para consultar as suas notas e para as citar.
LIESEGANG, Gerhard. História do Niassa, c.1600-1920. Estados, política e economia no período precolonial e a conquista colonial, com textos de E.M.Ngalambe, J.M.Chicoia e M.Nivaia em apêndice. Maputo. (Não publicado; agradecemos ao professor Liesegang que nos possibilitou e a autorização de citar o texto).
LINDEN, Ian. The maseko ngoni at Domwe, 1870-1900. In: PACHAI, B. (ed.). The early history of Malawi. Londres: Longman, 1972, p. 237-251.
LOPES BENTO, Carlos. A posição geopolítica e estratégia das ilhas Querimba - as fortificações de alguns dos seus portos de escala (Séculos XVI-XIX). LEBA. 7, 1992, p. 325-339.
LY-TIO-FANE PINCO, Huguette. Food prodution and plantation economy of Mauritius. Paper presented at the International Seminar on Slavery in the South-west Indian Ocean, Mahatma Gandhi Institute, Maka-Mauritius, 26th February-2nd March 1985.
LY-TIO-FANE PINCO, Huguette. Aperçu d`une immigration forcée: l`importation d`africains liberés aux Seychelles, 1840-1880. In: Institut d'Histoire des Pays d'Outre-Mer / Univ. de Provence. (ed.). Minorités et gens de mer en Océan Indien, xix e xx siècles. Sémanque: Institut d'Histoire des Pays d'Outre-Mer / Univ. de Provence, 1979, p. 73-84.
MACHADO, J. Mello. Entre os Macuas de Angoche - Historiando Moçambique. Lisboa: Prelo Editora, 1970.
MATTOS, Hebe. “Apresentação”. Dossiê Patrimônio e memória da escravidão atlântica – história e política. Revista Tempo, Vol. 15. n.29 Niterói Jul./dez. 2010, pp. 11-14.
MATOS, Maria Leonor Correia de. Notas sobre o direito de propriedade da terra dos povos Angoni, Acheua e Ajaua da Província de Moçambique. In: Memórias do Instituto de Investigação Científica de Moçambique. Série C, 7, 1965, p. 66-68.
MEDEIROS, Eduardo. As formações sociais moçambicanas entre os rios Zambeze e Rovuma desde a origem do povoamento até à introdução capitalista em meados do século XIX. Maputo: UEM / Faculdade de Educação, s/d, (Série: Textos de Apoio à Faculdade de Educação).
MEDEIROS, Eduardo. The Mozambiqueanisation of Slaves Embarking at Mozambiquean Ports. Portuguese Studies Review. 17, 2009, p. 119-131.
MEDEIROS, Eduardo. História de Cabo Delgado e do Niassa, c. 1836-1929. Maputo: Central Impressora, 1997.
MEDEIROS, Eduardo. Os Angoni do Niassa e de Cabo Delgado, c. 1848-1915. Maputo: UP-FCS, 1995.
MEDEIROS, Eduardo. Movimentos Migratórios, reestruturações políticas e formação de entidades étnicas. Maputo, 1993 (não publicado)
MEDEIROS, Eduardo. Notas complementares para uma bibliografia das línguas emakhuwa, elómwè e seus dialectos. Oficina de Antropologia. Maputo: ISP, 1990.
MEDEIROS, Eduardo. As etapas da escravatura no norte de Moçambique. Maputo: Arquivo Histórico de Moçambique, 1988.
MEDEIROS, Eduardo. Notas para um ficheiro bibliográfico das línguas emakhuwa, elómwè e echuwabo de Moçambique. Revista Internacional de Estudos Africanos. 4/5, 1986a, pp. 331-353.
MEDEIROS, Eduardo. A chefatura dos Megama do Chiúre: contexto económico e político da sua instalação. Cadernos de História. 4, 1986b, p. 21-27.
MEDEIROS, Eduardo. Notas prévias sobre a história do sul de Cabo Delgado anterior a formação dos grandes chefados Ekoni: UEM/DAA, 1º Relatório sobre as chefaturas Makhuwa-Meto do sul de Cabo Delgado, Maputo, 1985.
MEDEIROS, Eduardo. O povoamento do Norte de Moçambique pelos Macua-Lómwè. UEM/FL: Curso de Ciências de Educação, 1980.
MEDEIROS, Eduardo. A formação social macua-lómuè. UEM/Fl: 1977 (Texto para debate).
MELO BRANQUINHO, José Alberto Gomes de. Prospecção das forças tradicionais - Distrito de Moçambique. Lourenço Marques, 1969, p. 353, mimeo.
Moçambique-Ministério da Educação. Atlas Geográfico. Maputo: Ministério da Educação, 1986. Vol. I, 2ª edição.
MOLET, Luc - Presence d'éléments makoa à Sainte-Marie de Madagascar. Bulletin de l'Académie Malgache. nº 53, XXX, 1951, p. 29-31.
MOLET, Luc. Quelques contes Mokoa e Antaimoro. Bulletin de l`Academie Malgaxe. 33, 1955, p. 29-31.
MOUTOU, Benjamin. Tares et sequelles de l`esclavage a l`Ile Maurice et a l`ile Rodrigues. Paper presented at the International Seminar on Slavery in the South-west Indian Ocean, Mahatma Gandhi Institute, Maka-Mauritius, 26th February-2nd March 1985.
NELIMO (Núcleo de Estudos de Línguas Moçambicanas, Faculdade de Letras, Universidade Eduardo Mondlane). I Seminário Nacional para a padronização da ortografia das línguas nacionais. Maputo: INDE, UEM-NELIMO, 1989.
NEWITT, Malyn D. D. A History of Mozambique. London: Hurst & Company, 1995.
NEWITT, Malyn D. D. The early history of the maravi. Journal of African History. 23, 1982, p. 145-162.
NUCLEO DE ESTUDO DE LINGUAS MOZAMBICANAS (NELIMO), Faculade de Letra, Universidade Eduardo Mondalane. Iº Seminário para a padronização da ortografia de línguas nacionais. Maputo: INDE/UEM, 1989.
NURSE, G. T. The people of Bororo: a lexicostatistical enquiry. In: PACHAI, B. (ed.). The Early History of Malawi. Londres: Longman, 1975, p. 123-135.
NURSE. G. T. Ndwandwe and the ngoni. The Society of Malawi Journal. 26, 1973, p. 7-14.
O'NEILL, Henry E. Journey from Mozambique to Lakes Shirwa and Amaramba.Proceedings of the Royal Geographical Society. 6, 1884, Part II, p. 713-741.
PACHAI, B. Ngoni politics and diplomacy in Malawi, 1848-1904. In: PACHAI, B. (ed.). The early history of Malawi. Londres: Longman, 1972, p. 179-214.
PÉLISSIER, René. Naissance du Mozambique - Résistances et révoltes anticoloniales (1854-1918). Orgeval-France: Pélissier, 1984, Vol. I.
PIRES PRATA, Padre António. Os macuas têm outros nomes. O Missionário Católico (Cucujães). 23, 1946, p. 47-48.
PRICE, Thomas. The name Anguru. The Nyasaland Journal (Blantyre). 5, 1952, p. 23-25.
RAFAEL, Saúl. Milange e os seus povos. Moçambique - Documentário trimestral (Lourenço Marques). 82, 1955, p. 5-45; 83, 1955, p. 5-45; 84, 1955, p. 57-72; 85, 1956, p. 61-85.
RAJAONARIMANANA, Narivelo. Les parents à plaisanterie des Makoa. Études Océan Indien. 8, 1987, p. 119-123.
RAKOTOMALALA, Malanjaona; RAZAFIMBELO, Célestin. Le probleme d'intégration sociale chez les Makoa de l'Antsihanaka. Omaly sy Anio. 21-22, 1985, p. 93-113.
RANGELEY, W.H.J. The angoni. The Society of Malawi Journal. 19, 1966, p. 62-86.
RAZAFIARIVONY, Michel. Les zazamanga d'Antanetibe Ambato: De la servitude à la lutte continue pour la reconnaissance réelle. In Fanadevozana ou esclavage. Colloque international sur l'esclavage à Madagascar. Antananarivo: Institut de Civilisations, Musée d'Art et Archeologie, 1996, p.548-559.
READ. Margaret. The ngoni of Nyasaland. Oxford: Oxford University Press, 1956.
REDDI, Sadasivam. Aspects of the British Administration. Paper presented at the International Seminar on Slavery in the South-west Indian Ocean, Mahatma Gandhi Institute, Maka-Mauritius, 26th February-2nd March 1985.
RITA-FERREIRA, António, A sobrevivência do mais fraco: Moçambique no 3º quartel do século XIX. In: MADEIRA SANTOS, Maria Emília. (org). Actas da I Reunião Internacional de História da África: Relação Europa- África no 3o quartel do Séc. XIX. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical, 1989, p. 299-347
RITA-FERREIRA, António. Alguns aspectos materiais da civilização suahili em Moçambique. LEBA. 7, 1992, p. 319-324.
RITA-FERREIRA, António. Fixação portuguesa e história pré-colonial de Moçambique. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical, 1982.
RITA-FERREIRA, António. Os cheuas da Macanga. Lourenço Marques: Instituto de Investigação Científica de Moçambique, 1966.
RITA-FERREIRA, António. Povos de Moçambique - História e Cultura. Porto: Afrontamento, 1975
ROMBI, Marie Françoise. Le shimaore (Ile de Mayotte, Comores). Première approche d'um parler de la langue Comorienne. Paris: SELAF, 1983.
SANTOS, Frei João dos. Ethiopia Oriental. Lisboa: Typografia Commercial de Portugal, 1891, Vol. I.
SCHRIVE, M. Histoire du peuple (les gens qu'on avait vendus comme esclaves). Récit enregistré en avril 1977 à Mandrosomiadana près de Sajôavato (Diego-Suarez). Comunicação pessoal.
SCRIVENOR, (T.V.), Some notes on "Utani" or the vituperative alliances existences existeng between the clans in Massai district. Tanganyika Notes and Records. 4, 1937, p. 72-74
SHARP, Lesley A. The Possessed and the Dis-possessed: Spirits, Identity, and Power in a Madagascar Town. Berkeley: University of California Press, 1993.
SINCLAIR, Paul. Um reconhecimento arqueológico do norte de Moçambique, província de Cabo Delgado. Trabalhos de Arqueologia e Antropologia. 3, 1987, p. 21-43.
TEIXEIRA DUARTE, Ricardo. Moçambique e o Índico (Evidências arqueológicas do passado de Moçambique na sua relação com a História dos contactos comerciais entre os diversos povos do oceano Índico). Trabalhos de Arqueologia e Antropologia. 3, 1987, p.
TEW, Mary. Peoples of the Lake Nyassa Region. Londres: Oxford University Press, 1950.
VERIN, Pierre. Les séquelles de l'esclavage aux Comores et a Madagascar, 150 ans aprés la premiere abolition dans l'Océan Indien. Paper presented at the International Seminar on Slavery in the South-west Indian Ocean, Mahatma Gandhi Institute, Maka-Mauritius, 26 February to 2 March, 1985.
BETHELL, L. A Abolição do comércio brasileiro de escravos. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2002.
CAMINHA, P.V. Carta de Pero Vaz de Caminha. São Paulo: Martin Claret, 2003.
DEL PIORE, Mary; VENÂNCIO, Renato Pinto. Ancestrais uma introdução a historia da África atlântica. Rio de Janeiro: Editora Sevier, 2004.
ELTIS, David Eltis; RICHARDSON, David R. “Os mercados de escravos africanos recém-chegados às Américas: padrões de preços, 1673-1865” In: Topoi. Rio de Janeiro, março 2003, p.9-46.
HILL, P. G. Cinqüenta dias a bordo de navio negreiro. Traduzido por Marisa Murray. Rio de Janeiro: Editora Jose Olímpio, 2006.
MATTOS, Regiane Augusto de. “Comerciantes brasileiros de escravos e a resistência à dominação portuguesa em Angoche (Moçambique) no século XIX” In: Anais do XIX Encontro Regional de História: Poder, Violência e Exclusão. São Paulo: ANPUH/SP-USP., 08 a 12 de setembro de 2008. CD-ROM.
ABREU, Martha. “O caso do Bracuhy” In: MATTOS, Hebe e SCHNOOR, Eduardo. (Orgs.) Resgate: Uma Janela para o Oitocentos. Rio de Janeiro: Top Books, 1995. pp.167-195.
PESSOA, Thiago Campos. O Império dos Souza Breves: Política e escravidão nas trajetórias dos Comendadores Joaquim e José de Souza Breves. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Fluminense (UFF). Departamento de História. Niterói, 2010.
LEITE, Alfredo Carlos Teixeira. O tráfico negreiro e a diplomacia britânica. Caxias do Sul: EDUCS, 1998.
WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José. Formação do Brasil Colonial. São Paulo: Editora Nova Fronteira, 2006
WEGHER, Padre Luis. Um olhar sobre Niassa. Maputo: Paulinas Editora, 1995-1995. 2 Vols
WHITELEY, Wilfred. Modern local governement among the Makua. Africa (London). 24, 1954, p. 349-358.
WOODWARD, H. W. Makua Tales. Bantu Studies. 6, 1932, p. 71-89; 9, 1935, p. 115-158







